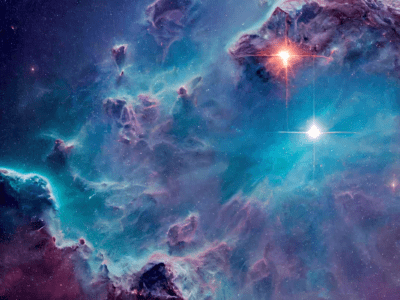Ah, o além da guerra | Müller Barone
Quando começa mais um grande filme de Ozu, “Uma Galinha no Vento”, é possível levar um ligeiro susto, é possível imaginar que estamos prestes a entrar no “Deserto Vermelho”, de Antonioni. Uma contradição e tanto, já que o mestre italiano ganhou prêmios com o filme muito pelo uso preciso das cores em seu trabalho de despedida do preto e branco.
Mas o gigantismo do progresso, a insânia da mudança e a inadaptabilidade dos cidadãos japoneses estão lá também, como o sufoco e a incomunicabilidade dos seres de Antonioni, só que em P&B. Aposto que o filme de Ozu serviu de fundamento, pesquisa básica e essencial para a obra do diretor italiano. Gênio se fundamenta em gênio, nada mais natural.
É pós-guerra e o filme mostra quantas vítimas ela faz além do front, distante das balas e explosões e continua ferindo e matando mesmo após a rendição. Novidade? Não, não hoje, mas em 1948, com Hiroshima ainda ardendo, no Japão, era mais que novidade, era ousadia. Hoje, é um tratado de história, de sensibilidade, de aula de cinema, bom gosto e genialidade, especialmente porque é puro, é trabalho de ator e diretor, nada de efeitos, cromas e embustes visuais.
Fora do núcleo familiar, fora das casas com hashis e cumbucas de arroz, jazz. Isso mesmo, jazz, quase sempre jazz. Os ianques chegaram. Você não os vê no filme, não em cabeça, tronco e membros, mas são visíveis, opressores e opressivos, sua música desfigurando a cultura milenar do Japão, barulho de máquinas invadindo sem perdão o interior das casas do bairro industrial, praticamente avisando: Game over! No more samurais; no more cherry trees; no more ikebanas. Agora, os coturnos do Ocidente marcarão os tatames.
As mulheres vendem seus quimonos para não morrerem de fome. Vender o quimono, usar saias em formato de ânforas como quem vai para o baile do fim de semana da High School, dá o tom de que a tradição, os valores e a cultura foram assolados pela guerra, pela fome e pelo way of life dos vencedores.
Não há o Imperador Hirohito assinando um documento de rendição em cerimônia pomposa. Há uma mulher que espera o repatriamento do marido, entregando de forma quase ritualística (porque a integridade no agir e a forma de sentar permanecem) seu quimono para ser vendido. A capitulação na forma mais dramática que poderia ser mostrada, porque não se trata da rendição de governantes, mas de um povo que, talvez, nem quisesse ter ido à guerra, mas foi. Às mulheres que não tinham voz a guerra veio.
Tokiko, a heroína triste, carrega seu filho nas costas literalmente. Outra metáfora daquelas, às mulheres coube ‘o fardo’ de carregar e suprir a nova geração de japoneses, porque os homens provedores estavam a serviço do Imperador. Brilhante. É o Mestre Ozu.


Tentem imaginar um homem que volta da guerra e sabe que sua mulher, por uma noite, se prostituiu para salvar o filho. Antes, tentem imaginar o drama de uma mulher, no Japão pós-guerra, em tempos de repatriamento e até de incerteza sobre a vida ou a morte dos homens, que decide, por necessidade, se prostituir. As mudanças do Japão derrotado, o simbolismo da violação da honra pela necessidade de viver. Há controle de doenças, há controle de comida e bebida, mas tudo falta, tudo é caro e o estado assolado.


É um filme que mostra tudo com uma sutileza, uma poesia e uma doçura inenarráveis, apesar da crueldade que expõe, ora de maneira implícita, ora escancaradamente.
Nada pode ser considerado excessivo no filme, cada quadro é um sinal, uma reflexão, um pedaço da história que vai se montando aos poucos, devagar, contagiosa e, quando nos damos conta, o amor aflora triste, sofrido, maltratado para, ao final, se agigantar, como o Japão acabou se agigantando depois.


A cena final é praticamente uma poética profecia do que viria a ser o País do Sol Nascente, feita por um de seus mais brilhantes filhos, Yasujiro Ozu.
Erra quem acha ser possível assistir ao filme só com os olhos e o cérebro. É o coração que deve estar vigilante quadro a quadro, a cada som ou fala, ou sorriso, ou lágrima. Se o coração se ausentar, esqueça, desligue o player e deixe Yasujiro Ozu em paz, não contamine o filme com a lógica do raciocínio fácil dos blockbusters. Se você ama coisas assim, fáceis e ruins, passe longe de “Uma Galinha no Vento”.
Por que “Uma Galinha no Vento”? Porque a personagem está tão desorientada como aquela ave fica durante a ventania. Perfeito. Se não é o destino de Tokiko, é seu presente, um presente sólido e impiedoso, tão dramático que não há como se construir ou esperar futuros. E ela se lamenta de já ter ‘quase trinta anos’.
Nota mil para o filme e seu final maravilhoso com um plano para lá de simbólico, lindo e excepcional das mãos de Tokiko. Se Deus existe, provavelmente sussurrou no ouvido do Ozu: ‘Termine assim, com as mãos dela deste jeito’. E Ozu seguiu à risca, trabalhou as mãos da personagem como Michelangelo trabalhou as mãos de Deus e de Adão na Capela Sistina.
Confesso: Chorei. Mas é Ozu.


Müller Barone é diretor e roteirista de cinema, escritor e amante de literatura. Sócio gerente da produtora Vento Negro Produções.