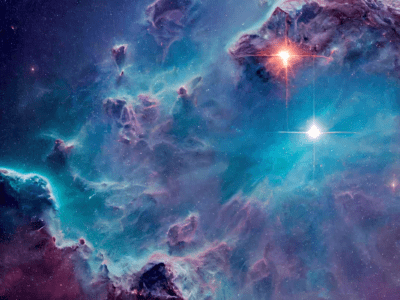A enforcada
Luzes azuis do carro da polícia
piscando ansiosas, puxam os
meus olhos para o lado esquerdo da
janela. À direita, reunindo-se
aqui e ali, pessoas formam blocos
à entrada do prédio branco do
outro lado da rua onde moro.
Já deve ter passado das dez horas
da noite. O infernal calor do dia
permanece embutido no frescor
sombrio da cidade: obsessivo,
pesa, afunda os corpos em si mesmos,
suarentos, molengas, displicentes.
O ar denso, oleoso, cheira a monóxido
de carbono, a enxofre. Vozes mudas
buscam cumplicidades, mais do que
comunicação, assim como os olhos,
voltam-se para o chão, vagueiam, perdem-se.
De caderneta à mão, sai do circuito,
ao mirar para o alto, o encarregado
policial do caso; vê a minha
imagem sem camisa na janela –
sem noção do ocorrido, intranquila,
intuindo alguma coisa grave
no ambiente. Retoma os seus cuidados
o guarda. Eu me deito estirado
para saborear na rede um leve
vento, recém-chegado, viajante,
do mar. Traz, mensageiro salso, notas
longínquas de paragens encobertas…
Passam alguns segundos de prazer
e logo sou engolido por hipóteses:
o que leva a todos a agirem
sob o solene véu do abatimento,
sob a fina neblina do temor
e do respeito ao próximo, distante?
Penso em talvez descer, ver no que posso
ajudar. Não, melhor não, pois pressinto
que o irremediável já se fixa
na testa das pessoas, o luar
na rua. Identifico o vizinho
da casa em frente, em meio à gente, espectros,
se vistos da janela, e ele hierático
andando de um lado para o outro.
Em seu quintal esplende uma mangueira
centenária, elegante e sóbria, que
abriga insetos, micos, ninhos, pássaros
em trânsito, morcegos, pipas, tênis
pendurados, e gera, à mancheia,
mangas exuberantes, ouro em queda
pelo passeio público, dispostas
ao incauto, ao devoto do dulcíssimo
êxtase oferecido pela fruta.
Sonada, à espera do desfecho
da cena, só deseja a dispersão
daquelas sombras mornas, murmurantes,
medrosas, ao seu redor, para que enfim
possa recuperar o sonho lúcido
que sonhava, suspenso pelos gritos
ásperos, intratáveis, guturais,
lançados por alguém que via o horror.
Antes de dormir, viro-me e converso
comigo: “Amanhã, quando o lixo
eu for jogar, pergunto, à senhora
da vendinha, o que se deu de fato.”
– Uma tragédia, filho, a D se
enforcou. “Quem?”, indago. – A mulher
que lavava a calçada de noitinha…
“Que triste! Sei quem era, nova, bela…
Sabe as razões?”, insisto. A vendedora,
de máscara com símbolo de um time
de futebol, movendo a cabeça
em negação, retira o olhar
da mira dos meus olhos e o firma
no infinito. Agradeço a informação
dada e sigo em frente em direção
à praia. Suicídio, meu deus, por
enforcamento! Horrível! Já não sinto
meus pés no chão, o peito sufocado,
tenso o pescoço queima, falta ar,
me apoio na amurada de uma igreja,
ao lado de um recanto onde os fiéis
acendem velas, oram, fazem suas
promessas, seus pedidos, seus ex-votos
pousados, dando graças, fé nos santos.
Aos poucos me refaço, cruzo a rua,
quase sou atropelado, a vista turva.
A imagem de D viva, short preto,
branca a camiseta amarrada,
a barriga de fora, a calçada
cinza, a parede nívea enrugada
do prédio, na lavagem, só, descalça,
um rabo de cavalo, os cabelos
castanhos, alva a pele, a cabeça
abaixada, ao fim do dia, vem,
palpável, em cinema, à minha frente.
Tinha um filho, sim, creio que sim, tinha.
Vejo-o passeando, da mãe os traços,
com um cãozinho feio, a pele malhada.
Levará o rapaz nas costa D
pelo resto da vida? Frágil Sísifo,
o que deu o primeiro grito, surdo
no esforço insano de, heroico,
tirá-la do cordame improvisado
para tentar içá-la ao alto do
monte da vida outra vez, passa
tranquilidade, tímido que é.
O cachorro, agitado, quer brigar,
colérico, mordendo a coleira.
A partir de agora, não será
o mesmo passeio, as lembranças
da fratura faríngea, cervical,
traqueal, das lesões na via carótida,
cérebro anoréxico, esfíncteres
sem controle, urina, fezes, lívido
rosto, inchaço, pânico geral,
o atormentarão, voltando quando
só no quarto, na sala, em sonho, sem
paz no café, na praia, no teatro,
em cada pequenino ato, ao
por do sol, ao fazer amor, a lua
lânguida, borboleta branca, lembra,
o vento, peregrino sem morada,
lembra, o gosto ácido da torta,
o silêncio, o nada, a madrugada,
lembra, faz renascer, materializa.
Sigo em frente rodeado de fantasmas,
um sol de meio-dia de matar
faz o suor correr por todo o corpo.
Quero água, cerveja, um refresco,
só não quero conversa com ninguém;
mas é exatamente o que ocorre
assim que ponho os pés no botequim.
– Olha quem está aqui! O professor
que preza a academia mas despreza
o saber de uma mosca de bar bêbada!
Não pude acreditar ao ver à minha
frente um cara culto, interessante
mas rancoroso, chato, violento,
que aluga o meu ouvido sem pedir
e de quem é difícil escapar.
– Boa tarde, amigo! Bom te ver!
– respondo diplomático, pensando
já numa estratégia de saída
à francesa. De copo na mão, sem
preâmbulos, começa a discorrer
sobre o enforcamento e o trágico:
– Quando em sã consciência poderia
alguém prever que o trágico viria
estarrecer um bairro classe-média
da Zona Sul carioca, rodeado
de quartéis do Exército brazuca,
sem assalto, em autocídio,
sem culpar a pobreza, nem a raça,
nem a maldade inata de bandidos,
numa sociedade desigual
ainda escravagista, no Império
ainda vivo n’alma, nos costumes,
nos hábitos impostos pela elite
mais podre do planeta, que odeia
o povo que governa e saqueia!
Uma mulher de trinta deixa Thânatus
vencer Eros após expulsar o
filho de casa, entra em depressão
e comete a hýbris, desmedida,
desafiando os deuses, como Antígona
ou Medéia. Tivesse lido a carta
do Tarot do Enforcado, saberia
que duraria só um tempo o mal-
estar, dependurada pela perna,
esperando o mundo retomar
o seu eixo central, girando em torno
do sol do amor, da vida, do prazer.
Não é não, meu irmão? Nesse momento,
percebe que seu copo está vazio,
e sem querer ouvir o que respondo,
pede para que eu pague outra cerva
enquanto dá um pulo no banheiro.
Confirmo com a cabeça que farei
isso mas, no instante em que o vejo
entrar no toalete, saio a mil
do boteco, correndo pela rua
esbaforido, até chegar na esquina.
Daqui vejo o mar, o deus supremo,
o belo enlutado, azulvioláceo!
A praia se abre à minha frente e todos
os sentimentos, medos, sensações,
pensamentos cruéis, mágicos, vagos
se esboroam nas ondas estourando
na areia. Milenar me olha o Morro
da Urca, despreza minha dor,
minha angústia pois viu muitos de nós
nascer, morrer um sem número de
vezes, frágeis, a seus pés de Titã.
Não sei por quantas horas permaneço
ali parado, em êxtase febril.
Uma menina suja, de nariz
escorrendo, me pega pela mão,
me puxa, me pergunta o que está
acontecendo. Só, abandonada,
quando me vê melhor, me pede grana.
Tiro do bolso tudo o que trazia
e dou a ela sem pestanejar.
A menina, feliz, parte gritando:
– O tio gente boa é uma mãe!
O tio gente boa é uma mãe!
Em eco, sua voz some distante
no momento em que a areia acaricia
meus pés, já sem sapatos, massageados
pelas águas dulcíssimas do mar.
Ah! Cósmico prazer… Gozo completo…
Do nada, me assustando, um objeto
plástico vem bater em minha perna:
um cão troncudo passa, me molhando
todo, numa carreira insana atrás
de uma garrafa pet mordiscada.
Longe um cara acena e se desculpa.
Morde o polietileno o pitbull,
me molha outra vez, volta ao dono,
implora, balançando o rabo, que
jogue de novo o totem na enseada.
O dono, conversando em alta voz,
lança com displicência a garrafa,
não tão longe, bem perto na verdade.
O cão se joga alegre, vital, forte,
latindo atrás do objeto do desejo.
No meio do caminho, no entanto,
muda de rota e nada para o fundo.
O dono até repara mas não liga –
Eu ligo! Eu junto as partes! O cão espera
alguma reprimenda, algum grito
que não vem. Ondas quebram. O sujeito,
numa conversa longa, não vê o seu
animal se afastar cada vez mais.
Duas meninas param, tiram fotos,
comentam encantadas: “Que fofura!”
Depois seguem em frente, domingueiras.
Meus olhos são levados na leveza
de seus passos de pássaros ciscando.
Ao virar a cabeça, vejo agora
outro cidadão, não mais o antigo,
com novo cão brincando no local
em que o anterior se encontrava.
Um pouco amargurado, sem saber
o destino do dono e do pitbull,
retorno para casa, enquanto a noite
cai abraçando o Morro milenar.
Na mente, insistente, a imagem
da enforcada pousa, retirada
do balançar sinistro do cordame.
Um calafrio elétrico percorre
minha coluna, chega no cabelo,
na testa, no nariz, nos olhos, boca
quando, na portaria de meu prédio,
vejo a moça lavando a calçada
com vigor e empenho, muito viva.
Na hora os joelhos amolecem
e só não caio como um corpo morto
cai porque discrimino, alva flor,
lavando a calçada, a vizinha
da enforcada. Não sei se tentando
apagar os vestígios da quermesse
fúnebre que se dera ontem à noite
ou se, em homenagem, repetindo
cotidiano gesto, no horário
habitual, local igual, as mesmas
roupas, layout idêntico, macabro
tributo, talvez só provocação.
Ela para, me olha, penetrante
bruxa, icamiaba, pitonisa,
sacerdotisa, esfinge, xamã, mater
dolorosa, Iansã, Yemanjá, Oxum,
todas num golpe único de vista.
Embriagado, extático, me deixo
levar. Assim, voamos pelos céus
da cidade, embaixo o mar, os morros,
túneis, pontes, favelas, aeroportos,
em simultaneidade aparecem
cenas matriarcais, de infernais
maus-tratos, torturantes punições,
guerras intertribais, imolações,
prazeres incontidos, bacanais,
espocam ao redor de nosso laço
de olhos ímãs, átomos amantes,
milhares de universos conectados.
Um caminhão de lixo cruza a rua,
ela ajeita os cabelos, eu sorrio,
a lua cheia surge glamorosa,
abro a porta prata do meu prédio,
volto-me e aceno, ela também,
parada, a vassoura na mão, rindo,
exatamente como D sorria.
Subo a escada e em cada andar que passo
encontro a enforcada. Não há mais
nada a fazer, não posso fugir
nem fingir, só me resta conviver
com a mulher que veio habitar
os corredores, quartos, labirintos
do jardim que cultivo solitário,
tecelã da mudança inevitável,
mãe da metamorfose final…


André Gardel é brasileiro, nasceu em Canoas – RS, em 02/10/1962. Com dois anos de idade vai para o Rio de Janeiro, cidade onde mora até os dias de hoje. Além de escritor, é compositor de música popular e Professor Associado II do Curso de Letras e do PPGAC (Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas) da UNIRIO. Publicou 12 livros (de ensaios, dramaturgia, biografia, poesias, contos, didáticos), recebendo o Prêmio Carioca de Monografia de 1995 por O encontro entre Bandeira & Sinhô; e lançou os CDs Sons do Poema (1997), Voo da Cidade (2008), lua sobre o rio (2014) e Na palavra (2019). Irá publicar proximamente o romance A viagem de Ulisses pelo Rio Amazonas.