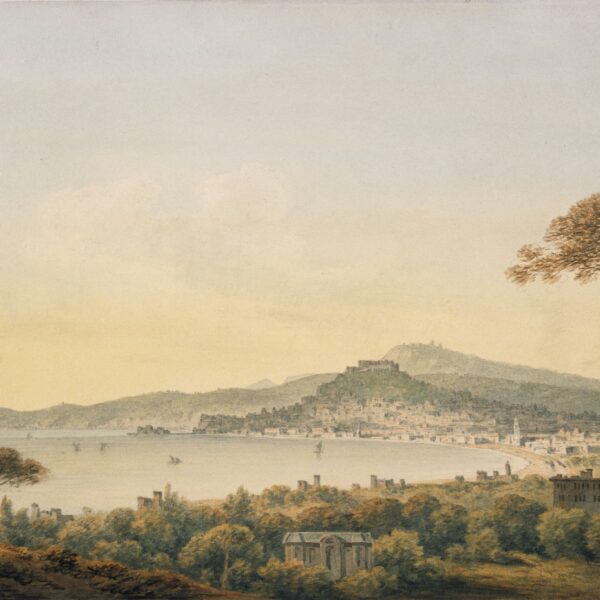25 de Abril: uma revolução em ambiente de soberania limitada | Carlos de Matos Gomes
Todos os Estados, até mesmo os impérios, têm uma soberania limitada pela dos seus competidores. Contudo, a limitação da soberania do Estado Português tem características próprias, devido, por um lado, à sua pequena dimensão (um território de 89 mil km2), à diminuta população e à escassez de recursos e, por outro, a uma situação geográfica na fachada atlântica da Península Ibérica e da Europa continental, logo, possuidor de uma localização estrategicamente importante para as grandes potências europeias, como ligação do Atlântico Norte ao Mediterrâneo e à costa africana. Este quadro foi praticamente constante ao longo da história.
O Estado Português, dados os condicionalismos, foi desde a fundação o que podemos designar como um estado vassalo da potência marítima, a Inglaterra, e todos os momentos chave da sua história foram determinados por ela, desde logo a independência contra outros estados ibéricos e contra a tentativa de unificação peninsular. Os cruzados ingleses estiveram com Afonso Henriques na fundação do Reino, serão tropas inglesas que decidirão Aljubarrota, e será a uma inglesa, Filipa de Lencastre, que se deve a estratégia expansionista da ínclita geração. Será ainda a Inglaterra que viabilizará a restauração da soberania no processo iniciado em 1640 e que assegurará a independência na Guerra Peninsular, com Wellington a defender Portugal das tropas invasoras de Napoleão. Também serão os ingleses que introduzirão o liberalismo e a modernidade europeia em Portugal, que, a partir de 1822, conduzirão o processo de independência do Brasil e, que, na Conferência de Berlim, atribuirão as colónias a Portugal, complementares das suas. O colonialismo português começa pela mão dos ingleses. A instauração da República deve-se, em parte e ironicamente, aos ingleses, que tinham desencadeado fervores patrióticos com o Ultimato.
O Estado Novo não alterou a submissão inevitável do Estado português ao Reino Unido. Salazar, apesar das simpatias pelo nazismo e da admiração por Mussolini, era, antes de tudo, um pragmático, obcecado pelo poder, um manhoso cura de aldeia que sabia depender de quem tinha poder. E quem mandava era a Inglaterra, por isso cortou os fornecimentos de volfrâmio à Alemanha e cedeu a base dos Açores aos ingleses.
A questão colonial e o movimento descolonizador após a Segunda Guerra Mundial não alteraram no essencial o relacionamento de subordinação de Portugal à potência marítima. A política colonial portuguesa de Salazar e de Caetano foi, em resumo, a que estava prevista na Aliança tripartida Portugal, África do Sul e Rodésia conhecida pelo nome de código de Exercício Alcora, de constituir um bastião branco na África Austral, e que obtivera o agrément tácito da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha e da França.
O 25 de Abril de 1974 ocorreu neste contexto de manutenção do status quo colonial português, apoiado pela Europa e pelos EUA. O colonialismo português articulava-se coerentemente com o neocolonialismo ocidental, no sentido de colocar no poder dos novos estados pós-coloniais elites europeizadas, que transferiam as riquezas dos seus países para os países industrializados e enriqueciam com as comissões da corrupção.
O colapso da política do regime do Estado Novo a 25 de Abril de 1974 deveu-se a um fator historicamente conhecido, mas também historicamente repetido: o cansaço das legiões, o desgaste das populações, o mal das guerras prolongadas de que falava Sun Tzu em “A Arte da Guerra”. Os quadros intermédios das forças armadas portuguesas recusaram o sacrifício que lhes era imposto e aos seus soldados para obterem uma mais do que duvidosa vitória, de ainda mais duvidosa legitimidade política e moral.
Para o cansaço dos centuriões, nas palavras do historiador René Pélissier, concorriam vários fatores: uma política anacrónica de censura e de subdesenvolvimento, em contracorrente com o que se passava no seu espaço civilizacional, do desenvolvimento e das liberdades do pós II Guerra Mundial, da alegria de viver da geração do baby boom, do Maio de 68, do Flower power, do Make love not war.
A ânsia de liberdade de uma juventude espartilhada e sem futuro, assim como uma guerra omnipresente, criaram um caldo de cultura propício à rejeição do regime pelos capitães. Os capitães de Abril emergem desse caldo, são o braço armado da geração charneira que vivia o dilema de ir para a guerra ou ter de optar pela emigração ou pelo exílio.
Tendo sido a condução da política portuguesa durante todos os seus grandes episódios determinada pelas potências europeias, em particular pela Inglaterra, estranho seria que o fim do Estado Novo português (uma das três ditaduras que existiam na Europa – Portugal, Grécia e Espanha e último regime colonial europeu) tivesse ocorrido à margem dessas forças de secular domínio. Mas foi o que aconteceu.
O 25 de Abril de 1974 foi uma ação conduzida por atores nacionais, representada numa peça original e para os nacionais. Terá sido mesmo o único grande ato político português genuinamente nacional, tendo sido decidido, planeado e executado sem interferências externas e sem obediência a “patrões estratégicos”. Dessa autonomia são provas o facto de o embaixador americano em Lisboa se encontrar de visita aos Açores, de o governo branco da África do Sul ter acordado estupefacto, de países como a França, a Suíça, Alemanha, URSS e outros (e logo dos respetivos serviços de informações desses estados), desconhecerem qual a natureza do golpe e daí as hesitações na atitude a tomar.
A surpresa nas chancelarias da comunidade internacional pelo desencadear da ação foi seguida pela desorientação dos analistas e politólogos que “leram” os acontecimentos seguindo as alíneas dos manuais. Para eles, o golpe fora levado a cabo por militares que tinham um chefe a quem obedeciam e integrava-se na lógica da partilha do mundo. Foi esta, curiosamente, a leitura dos grupos maoistas, que se vangloriavam de anti-imperialistas e anti social-imperialistas e acabaram, na sua maioria, como instrumentos da política dos Estados Unidos!
Ninguém fora do círculo do governo português e dos estados-maiores militares sabia do mal-estar dos jovens quadros, nem das suas más relações com os seus generais e políticos (é revelador do desinteresse em estudar quem foram os capitães de Abril que o trabalho de Aniceto Afonso e Braz da Costa, com apoio nos estudos de Maria Carrilho, se mantenha ainda hoje como quase único contributo). Na realidade, os capitães de Abril eram um mosaico que representava a sociedade portuguesa, com todas as suas contradições, e não acéfalos militantes de um regime. Os militares portugueses decidiram por si, e pela sociedade que integravam, derrubar um regime anacrónico e opressor.
A surpresa da sociedade nacional e da comunidade internacional perante a ação dos militares portugueses e a sua autonomia teve a boa consequência de evitar qualquer intervenção externa na preparação e desenrolar do golpe e permitiu que o processo político português gozasse de um curto estado de graça devido ao aturdimento dos Estados suseranos. Nenhum dos decisores dos Estados ocidentais e de Leste foi além da leitura de um clássico putch militar chefiado por um general com a tropa atrás, o que conferiu ao MFA algum tempo e espaço de manobra para atuar sem ser minado a partir de fora, como viria a ser.
Os analistas e os políticos não prestaram atenção à rebelião da Guiné, onde o MFA local colidiu frontalmente com Spínola, nomeando um dos seus como encarregado do governo, destituindo o comandante-chefe, declarando um cessar-fogo tácito, estabelecendo ligações com o PAIGC, reconhecendo-o de facto como interlocutor, extinguindo a PIDE/DGS, recusando a solução de eleições.
A Guiné não valia uma guerra, mas determinou os princípios a que devia obedecer a descolonização, impondo que os interlocutores de Portugal fossem os movimentos armados e não partidos criados à pressa para o efeito.
Limitou assim o poder de Spínola e criou condições para o movimento popular em Portugal, que dispôs de um tempo de liberdade fora das peias criadas pelas classes dominantes nacionais, das imposições das velhas alianças e das condicionantes da guerra fria.
A demissão de Spínola representou a derrota do golpe militar como havia sido lido e interpretado pela comunidade internacional: um general conservador assegurando a ordem e a continuação das relações sociais anteriores e transmitindo confiança à burguesia espanhola, em transição do franquismo para a integração europeia, o que exigia um regime de rosto democrático e a abdicação de alguns privilégios e folclores falangistas.
O MFA, e deve-se em boa parte a Otelo essa oportunidade, aproveitou o tempo de surpresa para abrir o golpe militar ao povo. Foi essa entrada que transformou o golpe militar numa revolução. Uma revolução em termos de comportamentos: o povo ganhou o direito da palavra, da organização nos locais de habitação e de trabalho; as mulheres ganharam direito pleno de cidadania, as relações laborais foram alteradas. As forças armadas deixaram de ser o esteio das classes possidentes. A descolonização foi realizada com a passagem do poder para aqueles que haviam lutado por ele e conduzido a guerra que levara à rutura do regime português.
Esta revolução motivou o aparecimento de agressivos movimentos de reação. O ELP, logo em dezembro de 1974, o movimento Maria da Fonte, o MDLP, que reagiram quer à alteração das relações de poder económico e social, quer à descolonização, apoiados pela mais poderosa e experiente organização de manipulação de massas: a Igreja Católica.
A reação conspirativa conduziu ao 11 de Março de 1975. Um momento decisivo que constituiu a primeira grande ação das forças externas no processo político português! Mas também revelador de que as grandes potências ainda não tinham aliciado agentes credíveis e competentes quer políticos, quer militares. O 11 de Março, do ponto de vista dos atores externos, correspondeu ao falhanço do ataque de cubanos pró-americanos da Baía dos Porcos, em Cuba. Uma aventura de ressabiados incompetentes, conduzida pela CIA.
Esta tentativa de reversão do processo político sofreu um radical contragolpe, na assembleia do MFA de 11/12 de Março (que os setores golpistas logo batizaram de selvagem), em que foram assumidas duas medidas heréticas: a nacionalização da banca e a reforma agrária! A nacionalização da banca atingiu o coração do sistema da criação e distribuição do dinheiro e da especulação, e a reforma agrária deu base a um processo de alteração de um bem emblemático: a posse da terra.
A partir do 11 de Março e dessa assembleia, todo o processo político, o dito PREC, foi uma pista de combate, um percurso armadilhado de traições que os movimentos sociais procuraram percorrer por vários caminhos, mais do que alterar um regime político, questionar alianças e pertenças estratégicas. Fizeram-no até à exaustão e à derrota em 25 de Novembro.
O MFA e a sociedade portuguesa dividiram-se entre os utopistas, que entendiam ser possível alterar relações de forças na sociedade, e os realistas, que analisaram as correlações de forças e entenderam que não se podia alterar o mundo. Aos realistas, ou pragmáticos, ou moderados, aliaram-se os que pretendiam reverter a situação para um antes do 25 de Abril, aqui em Portugal, e que em África pretendiam criar condições para independências brancas.
A luta política e social entre os dois campos foi travada, curiosamente, através de vários documentos, sendo o mais importante e decisivo o Documento dos Nove, que aglutinou as forças realistas, ou pragmáticas, para impor em Portugal um regime não exótico, convencional e conservador e, mais uma vez, não assustador para a Espanha franquista.
Julgo que a personagem que conduziu o processo de aquisição de um fato democrático pronto-a-vestir para Portugal foi o general Costa Gomes. Ele sabia desde o início que o resultado do PREC seria o de um regime aceitável pelo Ocidente, pela potência dominante, pelo império: um regime domesticado. Por isso foi parecendo que dizia que sim a tudo e ao seu contrário. Ele sabia que o rio correria sempre na mesma direção e desaguaria onde estava previsto desaguar e que apenas na Bíblia o pequeno David derrotou o gigante Golias. No mundo real, o David é sempre derrotado.
A Conferência de Helsínquia, no Verão de 1975, definiu o resultado do PREC, que teve o seu desenlace em 25 de Novembro de 1975, resolvido por duas companhias de militares contratados dos Comandos e tendo como justificação uma saída de paraquedistas desarmados, depois de terem sido provocados por quem estava no papel de chefe de estado-maior da Força Aérea. Alguém que agiu em obediência (ainda hoje ninguém perguntou a quem) para passar os paraquedistas para o Exército, que lhes cortou a alimentação e que alterou o dispositivo militar com a transferência dos meios aéreos para uma base da Nato, na Cortegaça, sem que até hoje se saiba se teve autorização e de quem. Estava iniciada a construção de um pretexto para a ação militar, a casus belli.
O 25 de Novembro, ao contrário do 25 de Abril, foi uma ação acompanhada do exterior, em que a linha vencedora foi apoiada pelo grupo de políticos europeus constituído em Helsínquia, chefiado pelo antigo primeiro-ministro inglês (claro) James Callaghan, que incluía Willy Brandt e Giscard d’ Éstaing, e que recebeu autorização de Kissinger para uma experiência que demonstrasse a viabilidade de uma alteração política com violência limitada, na ideia de que esta opção poderia ser mais eficaz do que um “golpe à chilena”. Assim foi.
A data de 25 de Novembro escolhida para a ação servia os interesses da comunidade internacional. Seria após a independência de Angola (11 de Novembro) de modo a retirar o ónus de uma situação que se adivinhava conflitual ao novo poder português, libertando-o de responsabilidades tanto em relação ao retorno de colonos que antecedera a independência, como de um eventual conflito que pudesse seguir-se.
No quadro da intervenção externa no processo político e no seu desenlace, os esquerdistas, em especial os que se encontravam sem patrocínio exterior, serviram de cordeiros sacrificiais, para que ao mundo pudesse ser dito que as forças democráticas haviam vencido, que os agitadores foram derrotados e que o PCP, os amigos do outro lado da guerra fria, continuavam a ter existência legal.
Otelo, ao recusar envolver as tropas ainda sob o seu comando (COPCON) na disputa entre cães grandes (os EUA e a URSS) que não se mordem, teve uma atitude de grande senso e sentido da realidade. Os portugueses devem-lhe o final não sangrento da revolução. O sangue em quantidade teria sido conveniente para algumas das fações vencedoras, que queriam mais do que o dos dois militares dos Comandos e um de Cavalaria 7, mortos no ainda inexplicado assalto ao quartel da Ajuda da Polícia Militar.
As forças armadas foram expurgadas de todos os quadros e tropas que pudessem ter sido contagiados pelo 25 de Abril popular e desordeiro, muito para além dos vencidos do 25 de Novembro. O caso mais gritante será o de Salgueiro Maia, enviado para os Açores porque, sendo emblemático do 25 de Abril, não podia manter-se na Escola Prática de Cavalaria. Interna e externamente, Salgueiro Maia teria de ser afastado como prova de controlo do novo poder sobre as Forças Armadas. O 25 de Novembro não fora feito para manter em Santarém um dos símbolos da revolução do 25 de Abril!
Em resumo, os atores nacionais desempenharam a contento os seus papéis e Portugal é hoje um membro respeitado, bem integrado, bem acomodado na ordem mundial.
O processo de normalização pós 25 de Novembro teve, em minha opinião, os seguintes momentos marcantes: a lei de delimitação dos setores, lei 46/77 de 8 de Julho, que abriu a porta às desnacionalizações; a lei da Contra-Reforma Agrária, Lei Barreto de 1977, a extinção do Conselho da Revolução em 1982 (em especial, a forma que assumiu), as leis de autorização de abertura de instituições financeiras privadas, que abriu a porta à banca privada que hoje temos, curiosamente toda na mão de capitais espanhóis, em 1986, e a alteração constitucional de 1989. Por fim, a adesão de Portugal à CEE, a 1 de janeiro de 1986.
A política é a arte do possível e temos hoje a situação que foi possível aos portugueses construírem em liberdade. Entendo que foi para isto que se fez o 25 de Abril, para termos a oportunidade de sermos responsáveis pela sociedade em que vivemos.
A sociedade portuguesa pode exprimir-se e pode informar-se. É a sociedade mais instruída e informada de sempre, dizem-nos. Escolhe e opta. Obedecemos a quem escolhemos, interna e externamente.
A liberdade, que é a base de todos os direitos, continua a ser possível. O 25 de Abril valeu a pena e valerá a pena lutar por ele e pela Liberdade. É o que fazemos.


Carlos de Matos Gomes é coronel do Exército, reformado. Nasceu a 24 de julho de 1946, em Vila Nova da Barquinha. Foi oficial do Exército, tendo cumprido comissões em Angola, Moçambique e Guiné. Algumas das suas obras foram adaptadas ao cinema e à televisão, entre eles Os Lobos Não Usam Coleira, adaptado e realizado por António-Pedro de Vasconcelos, com o título Os Imortais. Colaborou com Maria de Medeiros no argumento do filme Capitães de Abril. Publicou, como Carlos de Matos Gomes, e em coautoria com Aniceto Afonso, os livros Guerra Colonial, Os Anos da Guerra Colonial, Portugal e a Grande Guerra e Alcora – o Acordo Secreto do Colonialismo. Publicou doze romances, sendo os últimos no catálogo da Porto Editora, onde figuram os romances, escritos sob o pseudónimo Carlos Vale Ferraz.