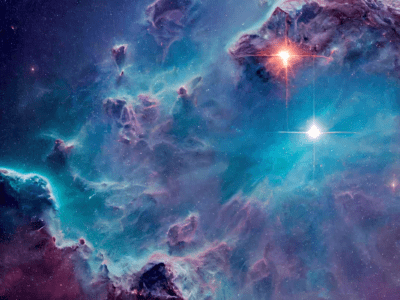Esquadros
Uma mulher me falava de esquadros e simetrias. E eu distraída, olhava para o rapaz de bons olhos que lia serenamente no parque. Seus cabelos à moda do Cristo lhes davam um quê de generosidade humana. E é bom ver isso assim ao ar livre.
Por causa dele não ouvi o que de mais importante a mulher de olhar oblíquo me dizia. Palavras expressivas como vida, morte, tato. Não lembro.
A extrema unção das coisas e todas as suas grandezas e dramas me escapam aos sentidos agora que apenas observo o rapaz pequeno que copia o olhar do gigante redentor.
Eu gosto da barba nos homens.
E veja que divago pois ainda não sei o que de bom ou trágico me trará esse rapaz. Talvez ele não me traga nada. O que seria ainda mais dramático. Eu que detesto o vazio no lidar humano.
Preciso exercitar não observar com o intuito de ser notada. E isso me cansa profundamente. Exauro-me ao escrever sem vontade, sem o norte da febre a me guiar os dedos, sem o pulsar encantado dos mágicos da Cidade Alta que brincam com nossas mãos. Nós, pobres e mortais escritores. Nós que tentamos traduzir o éter.
Mas buscamos, todos, o reconhecimento no outro. É isso ou a morte completa. O vácuo límbico e frio de um anonimato sóbrio e insípido. Quem pode desejar algo do tipo?
Te digo. Ando numa febre de viver absurda. Febre que me açoita os ossos e me obriga a ser colossal. Por conta disso, mil cavalos alados rasgam o meu peito. Irrompem a morada antes calma dos sentimentos. Querem a vida. São famintos e não possuem nenhum discernimento prático. São violentos e cruéis.
E eu odeio quando as palavras caem de mim assim a conta gotas, como se fossem bigornas jogadas sobre um teclado de um piano.
São desajeitadas elas. E o som que produzem é estridente, quebradiço, histérico.
E por essa contundente inadequação, descubro que não sou convencional. Não me catalogo em nenhum código e isso me soa um bocado estranho. Descobrir assim de chofre e sozinha que se é órfã e à margem pesa. Assim como ser livre e ao vento dói.
Mas estou feliz, agora que me aprofundo.
O rapaz de olhos redentores agora me parece bem normal. Perdeu a singeleza dos santos. E sempre achei exasperante lidar com os santos, visto que eles são uma constatação veemente da nossa incompetência.
Mas estou feliz. Agora que a vida é densa e dramática novamente. Tenho um gosto grosso pelo incompreendido. Gosto da água turva e rica de impropérios que banha o mundo. E o mundo é sim esse cio contínuo de dor e alegria.
E ao constatar isso, descubro rápido e claramente que tenho vícios. Algo jamais antes admitido ou pronunciado. Não são muitos. Mas tenho. E o maior deles, descobri hoje que dele não me livro mais. Me acompanhará todos os passos até que os pés se cansem e repousem em definitivo. E mesmo assim, esses mesmos pés frios e hirtos contarão essa mesma história aos netos dos netos que tomarei emprestado. O vício é grande, pernicioso, bonito. O vício é: quero ser amada. Mas não sei amar. E é egoísmo eu sei. Isso eu sei. Mas vício é vício. E não deve ser julgado. E pela primeira vez eu rezo de verdade. Entrego-me como criança insana aos pés do Grande Homem e prostada em seu altar eu digo; ‘Nada sei.’
E é bom quando digo isso. Uma manada de touros me abandona o peito.
Diante do Grande Homem ou do Grande Deus, eu repito ‘nada sei’. E estou nua. E é bom estar nua e sã diante Dele.
Não tenho frio, fome ou sede. Tudo em mim é arrogância absoluta. A arrogância extrema do existir.
Para testa-Lo eu digo; ‘Eu sou.’ E Ele desaparece. Pois o eu para ele é ralo e incipiente. Gosto Dele. Ele que agora é apenas ele. Gosto dele. Passou no meu teste. E o mais importante: eu não ligo se eu não passar no teste dele. Ele também não.
Todos os deuses deveriam fazer reverência aos homens por ousarem brilhar dentro de seus pesados corpos de carne. Deveriam. E só então, só após essa reverência é que haveria um claro entendimento. Um alinhave entre o sutil e o concreto, entre o sacro e o profano, entre as asas luminosas dos anjos e os pés sujos e escuros dos homens.
Termino.
O altar se esvai na névoa branca dessa tesa liturgia que criei.
Levanto-me.
Estou nua, cambaleante e só. Mas sei andar e sentir. O que é bom.
O meu maior tesouro é saber usar o ponto de interrogação em mim mesma.
As cores fenecem e ao meu redor tudo que é realizável cai. Como folhas em fim de setembro desse lado do Atlântico.
Há ainda muito a ser feito. É tudo o que sei. E por isso caminho altiva e severa entre os transeuntes incrédulos que julgam a minha pele nua insana.
Não me importo.
Eu vi os olhos do Grande Homem.
Ou os inventei ao meu gosto e prazer.
O que é infinitamente melhor.
Também eu sei ser calma e corruptível. Também eu sei ser Deus.


Beatriz Aquino é formada em Publicidade e Propaganda e é atriz de teatro. Tem publicados os livros: Apneia (romance), A Savana e Eu (crônicas), Anne B. – Sobre a Delicadeza da forma (romance) e Caligrafia Selvagem, lançado em Julho de 2020. Vive atualmente em Portugal.