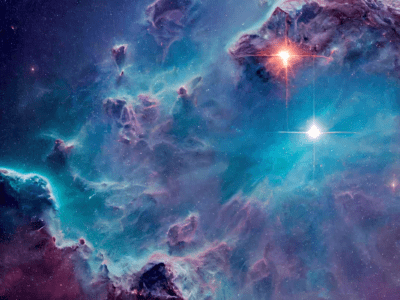Data, lugar, acontecimento político, nome e sobrenome: uma leitura de Vidas rasteiras, de Alberto Pucheu | Bruno Domingues Machado
I
Vidas rasteiras, livro lançado no segundo semestre de 2020 por Alberto Pucheu, traz onze poemas, oito deles distribuídos na primeira parte, intitulada com o mesmo nome do livro, e os outros três divididos em três partes, “por amor”, “em off” e “poema para catástrofe do nosso tempo”. Se eu tivesse o intuito fazer uma sinopse aqui, talvez eu começasse mencionando o primeiro poema, homônimo ao título do livro, por trazer a presença de uma moradora de rua e uma integrante do Movimento dos Sem Teto, contando suas marcantes histórias de vida; depois, o poema “ainda há algo por fora disso tudo”, que traz a presença de um vendedor de colchões enquanto o poeta vai a uma loja com o intuito de comprá-los; talvez eu mencionasse que os três personagens entregam suas histórias de vida num breve e fortuito contato com o poeta-ouvinte; depois, poderia incluir que em “por amor”, encontramos descrições imersivas dos ambientes, primeiro o de uma cidade da Tailândia, depois o do Museu do Genocídio em Phnom Penh; talvez eu frisasse que há, no poema “em off”, escrito com Danielle Magalhães, a evocação dos afetos e das trocas que acontecem quando se está sentado em uma mesa de bar acompanhado de amigos; e terminasse essa enumeração dizendo que na metade final do livro encontramos talvez o seu ponto alto, o “poema para a catástrofe do nosso tempo”, de quase cem páginas, no qual o poeta comenta o cotidiano das ações e declarações governamentais do Brasil durante a pandemia de covid-19. Descrevendo acontecimentos, apresentando fios narrativos, recontando histórias, tornando tangível o ambiente ao redor – e apreensível o tempo de hoje –, os poemas de Vidas rasteiras, eu prosseguiria, nos colocam diante de uma relação transversal com o mundo. Eles nos permitem ver através do mundo; através do contemporâneo, sem se restringir a ele. Nos permitem enxergar uma espécie de segundo plano, que se arranja por entre os versos, sem desaparecer com o que acontece no primeiro plano, no nível dos enunciados. Por trás de elementos até certo ponto mundanos, eu concluiria, vemos se conectar os extremos do mundo.
Mas isto não é uma sinopse, e talvez eu tenha a chance de começar este texto de outra forma, com o auxílio de um breve excurso.
Uma das diferenças mais visíveis entre a poesia e a prosa repousa no interesse que a descrição do enredo possui para suas abordagens. Enquanto podemos imaginar uma conversa cotidiana sobre um romance na qual alguém pergunte, “sobre o que é o romance?”, e o interlocutor responda resumindo em linhas gerais os acontecimentos do livro e os temas de que trata, um poema dificilmente permite esse tipo de abordagem, mesmo na conversa mais banal. Sem dúvida, a abordagem teórica de um romance vai além disso; mas até na melhor elaboração acontecimentos costumam ser descritos e algum resumo costuma ser dado. Uma diferença como essa entre prosa e poesia pode parecer precária. Mas, ao mesmo tempo, ela nos permite perceber importantes condições com que a poesia se apresenta para nós. Sem trazer a mesma quantidade de enunciados de um fluxo narrativo em prosa, que permitisse se condensar em linhas gerais, a abordagem de um poema se relaciona quase sempre com a integralidade de seus versos, sua citação de cor. O fato de um poema dificilmente se prestar a um “resumo”, mesmo em uma conversa banal, acompanha a força que o “dito” adquire quando apresentado em versos: a impossibilidade de se condensar os enunciados de um poema reflete o grau de fatalidade que eles recebem quando aparecem nos versos. Parece que num poema uma frase depois de enunciada não pode ser apagada; quando se diz, já é tarde demais para voltar atrás. Enuncia-se em um poema com uma instauração ontológica própria dos veredictos, do noticiamento dos acontecimentos inevitáveis, do anúncio dos nascimentos de novos corpos e da comunicação da morte. Um poema resiste ao relato de seus acontecimentos porque ele mesmo se instaura como acontecimento.
A resistência à condensação ocorre com tanta força na poesia que, mesmo os poemas mais narrativos, descritivos e próximos da prosa tornam impensável uma conversa que os tente resumir. É o que ocorre com o livro de Alberto Pucheu. A enumeração de alguns de seus fatos prosaicos, como ensaiei fazer no primeiro parágrafo deste texto, nada diriam sobre ele. E não só porque a poesia pouco se presta a isso, mas sobretudo porque, em Vidas rasteiras, através do desfile de vidas precárias, e enfileiramento de enunciados agudos contra a política genocida de Bolsonaro, vemos se destacar a existência concreta de dimensões coletivas cuja concretude costuma ser apreendida na vida cotidiana apenas na escala individual, e nos livros raramente como existência concreta. O livro de Alberto Pucheu não permeia o mundo pela metade. Não o aborda tematicamente. Ele permeia algumas dimensões cruciais deste mundo, humano, indo e vindo entre a concretude e a transversalidade do coletivo. Podemos enxergar ao longo de seus versos a existência de pelo menos três dessas dimensões. Elas aparecem em quase todos os poemas, combinadas em uma proporção e uma quantidade estimável. Como se o livro contivesse três ingredientes principais, os misturasse e repartisse a sua mistura de forma desigual pelas páginas. Os ingredientes, ou melhor, as dimensões que o livro movimenta se misturam – e se alimentam de uma relação vital com a possibilidade de existir ou desaparecer. Poderíamos designá-las do seguinte modo.
1) A dimensão do mundo que poderíamos chamar de “onto-política” ou “geoafetiva”, em que se deslocam, agem e sofrem aqueles que Pucheu chama de “vidas rasteiras”. Estas compreendem as vidas singulares, anônimas, depauperadas, cuja singularidade se apoia no modo como se afirmam através da sobrevivência e da própria história. Encontraremos, no livro, diversas dessas vidas, contando suas histórias ou intervindo de um modo decisivo no poema. Como a de Dona Laura. Ela conta que “saiu/ de sua aldeia/ na amazônia/ na fronteira/ da venezuela/ aos 27 anos/ porque chico mendes/ fora assassinado/ e o cacique/ da tribo/ e os caciques/ das tribos/ aliadas/ de chico mendes/ que tanto ajudou/ indígenas/ resolveram vingar/ sua morte/ declarando guerra/ de homens/ (…) guerra perigosa/ a tornar perigosa/ a permanência/ das mulheres/ nas aldeias/ a levar as mulheres/ para o primeiro/ exílio a levá-las/ para manaus/ onde morreram/ assassinadas/ doentes estupradas/ pobres mendigas/ pelas ruas becos”. Elas aparecem nas ruas de duas grandes cidades brasileiras, no alto de uma montanha do outro lado do mundo, ou sob a forma de relato de um corpo torturado. Em alguns casos, suas presenças se prolongam por dezenas de versos. Em outros, não mais do que cinco ou seis, mas o suficiente para não as esquecermos – assim como aqueles que as violentaram.
2) A dimensão geopolítica de onde vem a violência de Estado, “os exércitos as polícias/ as bombas as balas/ as fronteiras as moedas/ as línguas as cercas/ eletrificadas os muros/ as discriminações/ a morte”. A “necrocracia”, o “altericídio”, o “populicídio” perpetrado, no nosso caso – o que o livro não se cansa de acusar –, pelo atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.
3) A dimensão que poderíamos chamar de “político-afetiva”, onde o que ocorre, ocorre “por fora disso tudo” (da violência do poder, do altericídio). A região onde se vai até o outro “por amor”, onde se ouve o outro, onde se testemunha sem o espelho vazio da percepção turística; onde os corpos, as salivas e os sangues se transfundem, trocam e vazam, em off, longe dos holofotes. Nela, onde aparece mais livremente a troca entre os corpos por amor ou por amizade, não vemos Pucheu em nenhum momento mencionar políticas de Estado, violência policial ou governamental – como se na ausência de um, o outro aparecesse em sua integralidade.
Vidas rasteiras permeia, assim, um mundo de barbárie e resistência políticas, no qual, quando a vida humana sofre pelas mãos do Estado, ela sofre a violência mais atroz, mas quando ela pulsa, reluz a junção mais livre entre amor e política.
Entre essas três dimensões, costuradas ao longo de seus quatro poemas, ocorrem fenômenos e processos – que Pucheu não deixa passar. Processos de desenraizamento, desaldeamento, empobrecimento, indigência e morte. “[E]ssas vidas/ indígenas/ desterradas/ desaldeadas/ tornadas pobres/ mendigas/ mulheres/ desempregadas/ sem conseguirem/ pagar/ seus aluguéis/ suas roupas/ suas comidas/ pobres até/ virarem/ mendigas/ moradoras de rua”. Fenômenos vitais, quando as vidas rasteiras, apesar de tudo, se desviam, se adequam, sobrevivem, e permitem sentir, na condição precária em que se encontram, a vida humana pulsando em concentração quase máxima. “[Q]ual será o som/ dessas vidas/ rasteiras miúdas/ mimosas/ mesmo que frágeis/ tentando vingar/ tentando se vingar/ tentando/ se fazer/ valer tentando/ se adequar/ ao que encontrar/ pelo caminho/ tentando se desviar/ para não/ se ferir”. “[M]as ela é filha/ de potira/ se safou/ sobreviveu/ se mandou/ para são paulo/ em cujas ruas/ do centro vive/ até hoje/ amando os gays/ amando as travestis/ cheia de sonhos”. Fenômenos preenchidos por vezes com um páthos impregnado na voz – ira, indignação, impotência –, quando o focinho do “poeta-bicho” se volta para as ações necropolíticas. “Amanhã não será um dia melhor/ do que hoje, que não é um dia/ melhor do que ontem. Há um/ sentimento fúnebre no ar,/ de quem tem vivenciado/ uma morte após a outra,/ de quem tem vivenciado,/ antecipadamente, mais uma/ morte, a última delas, a morte/ (…) a experiência final da morte/ em vida, da qual sobrevivemos,/ se tanto, ainda que neste mundo,/ enquanto fantasmas desossados,/ descarnados, desfigurados,/ que berram na tentativa de evitar/ a morte e de evitar, a todo custo,/ a morte em vida. Berramos em vão”.
O cartógrafo-poeta, como ele se autointitula em um verso, é, mais do que tudo, cartógrafo “do nosso tempo”. Tratando do que ocorre em algumas partes do planeta, Pucheu não agrimensura regiões para as quais o tempo transcorreria sem importância. É cartógrafo-arquivista, é metereólogo-cronista. Em seu livro, o tempo, em enorme medida também humano, aparece como agente primordial. Ele distende, com seu movimento, aquilo sem o que não haveria dimensão ou mundo, mas apenas um ponto abstrato, uma pauta de notícia ou tema genérico de poema qualquer. A realidade político-social de que fala o livro, assim como os acontecimentos que a atravessam, é povoado decisivamente pelo tempo a que pertence, ou pelo corte do tempo com que o poeta o interpela. Podemos dizer, mesmo correndo o risco de dizê-lo de modo óbvio, que aqui o mundo está prenhe de passado, presente e futuro; que ele se constitui no atravessamento de processos de longo prazo, começados há muito, que aqui ou ali encontraram um desfecho às vezes terrível, como em Phnom Penh; e que em outra parte, como hoje, no Brasil, perigam instaurar irreversivelmente uma realidade que nos conduzirá a um futuro já vivido.
Vejamos dois casos, em dois poemas distintos, “por amor” e “poema para catástrofe do nosso tempo”. A primeira ação governamental exposta no livro com mais detalhe se situa do outro lado do mundo, ocorrida em um tempo histórico diferente do nosso. Em sua viagem para Tailândia, Camboja e Vietnã, o poeta se depara com a violência na visitação à antiga prisão S-21, hoje conhecida como Museu do Genocídio de Tuol Sleng, localizada em Pnhom Penh, capital do Camboja. Sabe-se que para essa prisão foram enviados os opositores do regime dito comunista Khmer vermelho, que entre 1975 e 1979 dominou o Camboja. Estima-se que apenas 2% dos enviados para a S-21 saíram vivos, todos submetidos a algumas das mais indignas violências contra a vida, e cujas atrocidades foram expostas ao mundo na ocasião da queda do regime, pela invasão coordenada pelo Vietnam em 1979. Preservada quase intacta, encapsulando o tempo no qual a violência ocorreu, na prisão a barbárie permanece – para ser vista, lembrada, nunca esquecida, junto com o poema de Pucheu:
do lado de cá em que agora estou
e que tento ver olhando o lado de cá
vejo o sangue propositalmente
não lavado durante décadas
pelas paredes sujas das celas
coagulado pelos corredores
(…)
do lado de cá vejo as grades
impeditivas que me apontam
vejo as tornozeleiras de ferro
pesado proibindo qualquer
movimento me apontando
vejo as pequenas caixas de ferro
enferrujado para os excrementos
diários que me apontam vejo
que me aponta o arame farpado
dos corredores para que ninguém
tentasse se suicidar vejo fantasmas
de corpos contorcidos por dores
produzidas de bocas por onde vejo
sem os ouvir os gritos de desespero
emitidos pela tortura sofrida
pela morte abrupta ou gradativa
em todo caso infligida
(…) a barbárie aqui
ainda pulsa arrancando-nos
o silêncio jogando-o à nossa frente
Nesse “museu”, o tempo de outrora foi mantido congelado – ao contrário do que observa o poeta em relação ao Memorial da Resistência em São Paulo, onde se realiza “uma reconstituição/ parcial eu poderia dizer/ uma reforma imitadora uma reforma/ limitadora do que fora/ aquele local/ quando presos políticos/ eram amontoados torturados/ mortos ali no deops”. Em Phnom Penh, ao contrário, “quase nada [é] retocado/ nada edulcorado nada adornado”, “mais sítio arqueológico/ do que museu”, tudo ali “preservado com muito/ pouca intervenção sem nem mesmo/ uma limpeza deixando o trabalho/ da morte as operações dos genocídios/ serem vistos para avivarem/ a memória de cada um de nós”. Não temos, nesse poema, o simples retrato de um lugar, como quem faz turismo esvaziando experiências e culturas. Temos a transposição de um período histórico, interceptado no ambiente ao redor – história que em Pucheu não permanece atada às suas coordenadas cronológicas e geográficas. Pois Pucheu, aqui como em outras partes, faz um movimento que desloca os lugares e períodos de suas coordenadas, as dimensões de sua distância, fazendo-os se defrontarem. Parece impossível, por exemplo, não relacionar o ambiente da prisão S-21, preservado sem as vítimas, com as vítimas preservadas sem o ambiente, conforme aparecem em dois relatos presentes em “poema para catástrofe do nosso tempo”, dezenas de páginas depois de “por amor”. Aqui, já no Brasil, também algumas décadas atrás, trombaremos com o relato extremamente marcante da advogada Eny Moreira, que descreve o estado em que ela encontrou na capela do Cemitério do Caju o corpo de Aurora Maria Nascimento Furtado, vítima da ditadura militar instaurada pelo Golpe de 1964:
Quando eu cheguei,
a Aurora estava já no caixão… Gente,
é muito difícil lembrar isso. Nela,
foi posto um pano branco, rasgado
aqui para imitar um vestido.
A gente foi cobrindo de flores,
ela tinha um olho saltado, o outro
completamente preto,
um afundamento… Um afundamento
no maxilar, uma fratura exposta
no braço, mordidas pelo corpo,
não tinha unha nem bico de peito.
O cabelo dela era liso. Ela tinha 26
anos, branquinha, eu tinha a mesma
idade dela. O cabelo dela liso
assim e tinha uma franja
que tinha sido cortada
em cima da sombrancelha
toda irregular. Eu fiz um gesto,
desse gesto de carinho
que você faz em criança,
passando a mão assim…
Quando eu passei a mão,
que o cabelo levantou,
meu dedo afundou. Eu
comecei a mexer no cabelo.
Eles tinham… A última
coisa que fizeram com ela
foi apertar um torniquete –
por isso que ela tinha
um olho saltado.
Contrariando as leis da física, que ata os nossos corpos ao momento e ao local em que eles se encontram, parece não haver espaço físico aderente o bastante quando se trata de restringir o sofrimento desmedido ao local em que ele ocorreu, assim como parece não haver impermanência de tempo forte o suficiente para esmaecer, com a passagem dos anos, a crueldade contra aqueles que a sofreram. S-21 se choca com a Ponta da praia, “a base da marinha/ na restinga de Marambaia/ no Rio de Janeiro, onde/ os opositores da ditadura/ eram executados/ e desovados”. As instalações de uma prisão no Camboja se prolongam nos porões do DOI-CODI/RJ, os choques elétricos se perpetuam numa corrente que salta os intervalos de anos e de culturas, os torniquetes se apertam conjuntamente contra cabeças brasileiras e cambojanas, assim como as marcas de suor, mijo, excremento e sangue pisado apontam para os orifícios – do poeta e daqueles que sofreram a milhares de quilômetros de distância uns dos outros.
A extensão da barbárie, as nervuras que ela distende e enlaça às nervuras de outra barbárie, vão além dos atos consumados de violência, das violências de mesmo tipo e mesma intensidade. Às vezes, ouvimos numa fala autocrática o passado e principalmente o porvir atroz que ela prepara. Como nos faz ouvir Pucheu no mesmo poema, quando emenda o relato da tortura militar brasileira com o primeiro pronunciamento público em cadeia nacional de rádio e televisão que Jair Bolsonaro efetuou, em Março de 2020, por ocasião da pandemia de covid-19.
O que eu vi até o momento
é que outras gripes
mataram mais do que essa.
Assim como uma gripe, outra
qualquer leva a óbito.
Por enquanto, nada de alarme.
Não é uma situação alarmante.
Não é motivo para pânico.
(…)
Não temos como impedir
o direito de ir e vir.
Eu tenho o direito constitucional
de ir e vir. Ninguém vai tolher
minha liberdade de ir e vir.
(…)
Vão morrer alguns. Sim, vão morrer.
E daí? Lamento. Quer que eu faça
o quê? Eu sou Messias, mas não faço
milagre. Não podemos deixar
esse clima todo que está aí. Prejudica
a economia.
(…)
O número de pessoas que morreram
de H1N1 no ano passado
foi na ordem de 800 pessoas.
A previsão é não chegar
a essa quantidade de óbitos
no tocante ao coronavírus.
(…)
Não queremos negociar nada.
Não tem mais conversa.
Daqui para frente, não só
exigiremos, porque chegamos
no limite. Faremos cumprir
a Constituição. Será cumprida
a qualquer preço. E ela tem
mão dupla. Não é só uma mão,
não. As Forças Armadas estão
ao nosso lado. Todos nós
juramos um dia dar a vida
pela pátria. Agora é Brasil
acima de tudo e Deus acima de todos.
Deus abençoe nossa pátria querida.
O primeiro pronunciamento público de Bolsonaro durante a pandemia, conclamando a população a não adotar as medidas de distanciamento sanitário, escancara o mesmo agenciamento de morte que estrutura a barbárie perpetrada contra o corpo dos que resistem ao totalitarismo e o programa “populicida” disfarçado de apreço à liberdade de ir e vir – num momento em que a liberdade de ir e vir, num cenário de contaminação por contato social, conduzirá a um morticínio equivalente em quantidade à qualidade do perpetrado pela ditadura militar. Phnom Penh continua até hoje em Phnom Penh, atravessando a memória de um dos piores períodos da história recente brasileira, se anunciando nos enunciados do porta-voz e executor da catástrofe em que o Brasil se encontra atualmente. Corpos supliciados procriam na voz de Bolsonaro, e o ar fúnebre de tudo isso circula pelas ruas, pelas calçadas, e chega até nós nos versos de Pucheu.
Assim, o passado desemboca no presente, que prenuncia um futuro que periga continuar ou repetir o passado. Partes distantes do mundo se prolongam como vizinhas. Prolongamento de tempos e confrontamento de lugares ocorrem tanto mais acentuados, nos poemas quanto mais Pucheu se coloca imerso nas coordenadas geopolíticas e históricas. Essa aderência tão adstringente só se torna possível na medida em que o poeta também se coloca, implícita e explicitamente, nos locais e momentos sobre os quais ele escreve. Quando ele fala de uma câmara de tortura, ele está numa câmara de tortura. Quando ele fala do morticínio brasileiro, ele vive o morticínio brasileiro. Quando ele fala de uma cidade na Tailândia, ele está permeável a todos os aspectos físicos dessa cidade. Seus poemas não se cansam de trazer dêiticos, indexadores de tempo e espaço, que situam com pouca ou muita particularidade um ambiente ao redor de “carne e osso”, se se pode dizer assim. No poema “por amor”, o mesmo em que, durante a viagem para a Tailândia, Camboja e Vietnã, desembocamos na prisão mantida intacta em Phnom Penh, parece que somos transportados para uma cidade tailandesa. “[A]qui”, do outro lado do mundo, “a comida é feita na calçada/ à vista de todos exposta a todos/ misturando seu cheiro ao cheiro/ de todos e ao de qualquer um/ que passa na rua”.
agora neste exato instante
enquanto escrevemos
num botequim tailandês
enquanto no banheiro limpo
uma lagartixa sobe pelas paredes
eu ao seu lado escrevendo
sem saber o que você escreve
você ao meu lado escrevendo
sem saber o que escrevo
eu curioso para ler
o que você escreve
numa encruzilhada do centro
antigo de phuket numa encruzilhada
em que em um dos pontos da quadratura
tem o bar barato em que estamos em outro
uma loja de relógios em outro uma farmácia
e em outro uma loja dessas pequenas
motocicletas que aqui todos têm
(…)
daqui desta encruzilhada neste bar
neste botequim bebendo algumas
singhas nossa cerveja até agora favorita
daqui pelo meio do dia
enquanto pequenas motocicletas
param e passam fazendo barulho
no sinal em frente
enquanto carros buzinam
enquanto motores adentram o bar
(…) enquanto vejo sobrados
sino-portugueses com balões chineses
no andar debaixo no andar da rua
e no andar de cima janelas
que são a um só tempo portas e janelas
ou janelas que se parecem com portas
de madeira com venezianas cortadas ao meio
portas que levam apenas ao abismo
da rua essas janelas portas azuis
goiabas amarelas verdes
com o colorido que delas salta
equilibradamente à vista
Estamos ali, na ponta de uma das quadraturas, vendo as janelas que parecem portas, sob o cheiro de comida tailandesa, ao lado das motocicletas que passam tirando fino de nós. E estar ali por meio de versos é se deslocar burlando as leis da física, contrair num livro a mundanidade que um poeta viveu. Da mesma forma, no último poema, por nenhum segundo conseguimos deixar de estar sob o tempo em que agora vivemos, na avalanche de absurdos cometidos durante a pandemia, no empilhamento de mortos em necrotérios – mesmo que, nesse momento, o poeta não apareça situado em um espaço físico ao redor (afinal, estamos em uma pandemia); em que, apesar de nenhuma referência ao local de onde escreve, conseguimos captar, em cada nova inserção de sua voz no poema, sua presença como um ponto de ressonância de todas as notícias do Brasil e do mundo, através da internet; em que, no Brasil mais do que talvez em qualquer outro lugar, as referências ao espaço físico ao redor se tornam impossíveis. “Diante das notícias falsas, dos falsos/ sinais, das placas enganosas/ por todos os lados a revestirem/ direções já totalmente imprecisas,/ difícil, mesmo impossível,/ acertar qualquer localização,/ qualquer rota, qualquer/ destino. É preciso aprender/ que não há mais localização,/ nenhuma rota, nenhum destino/ aonde se possa ir ou chegar”. Aí, na falta de referências a lugar, as referências ao momento se tornam mais presentes do que nunca. Aí os dêiticos temporais aparecem em profusão, como nos versos em que se comenta no calor do momento alguns eventos. “A cada dia,/ o ministro da saúde oscila/ entre ceder às barbaridades/ do presidente e contradizê-lo./ (…) pois bem, o ministro finalmente/ parece ter dito ontem para o presidente/ não menosprezar a gravidade/ da situação em suas manifestações/ públicas/ (…) Vinte e quatro horas depois disso,/ hoje mesmo, agora há pouco,/ o presidente assassino fez um tour/ por Brasília, por Taguatinga, Ceilândia/ e Sobradinho, por padarias, pequenos/ comércios e pelo hospital do exército”. “Acabo/ de saber que os bairros e lugares/ pobres do Rio e São Paulo/ já estão com uma taxa de letalidade/ dez vezes maior do que as regiões/ mais ricas”. “Acabo de saber que nos EUA/ enquanto há mais de 30 milhões/ de novos desempregados, a fortuna/ dos bilionários aumentou na crise/ mais de 300 bilhões de dólares”.
O espaço-tempo do mundo político-social que nos constitui e em que o poeta se encontra chega até nós através de alguém que está no mesmo mundo que nós. Trata-se na maior parte do tempo de uma forma de estar no mundo como a de alguém que se coloca do nosso lado, escrevendo poemas em seu notebook enquanto no nosso notebook, em tempo real, acompanhamos o mundo sobre o qual ele escreve. Com os sinais de alguém que se faz antena da raça dos desterrados dos dias atuais. O planeta que Pucheu convoca retraça coordenadas que no mundo físico aparecem dispersas – e que precisa também de livros para as retraçar. Retraça através de versos, lugar rasteiro que talvez melhor capte algumas micro-vibrações da crosta. Religa as dimensões da indigência e do Estado, que, apesar de oprimida e opressora, com o peso do Estado colocado exatamente sobre a camada da indigência, para muitos podem aparecer separadas ou aproximadas apenas de forma abstrata. Reflete um planeta no qual o extremo fascista capaz de tragar a maior parte dos atos de amar se encontra exposto em sua condição de buraco sem fundo.
É possível, agora, reconstituir três das principais formas concretas como aparecem, nos poemas, as dimensões do mundo que identifiquei no início deste texto.
1) Primeiro, na parte intitulada “vidas rasteiras”. Quando, em vez da saudação daqueles que acabam de chegar, Dona Laura, moradora de rua que interpela Pucheu em uma mesa de bar, começa a contar sem rodeios os momentos mais marcantes de sua vida, Pucheu nos impacta muito singularmente. Ele materializa o modo como Dona Laura abdica do “boa noite” protocolar dos “civilizados”, como se este não tivesse razão de ser para alguém despossuído; como se, despossuída, estivesse desguarnecida também das dezenas de camadas de civilização atrás das quais nos encapsulamos, e só tivesse finalmente a própria vida para dar, em todo e qualquer contato, em toda e qualquer ação. O vendedor de colchões da Ortobom faz o mesmo. Ele “nos disse:/ eu fui casado por 25 anos/ tive filhos depois me separei/ me casei de novo/ espero que não estranhem/ me casei de novo pela segunda vez/ com ele que era enfermeiro/ em petrópolis que havia perdido/ sua esposa de tuberculose/ que veio morar comigo na baixada/ com todos os nossos filhos juntos/ como os filhos dele são pequenos/ mais novos do que os meus dissemos/ para eles que somos amigos/ que resolvemos morar juntos/ quando nos casamos/ todos os amigos me abandonaram/ eu era pastor de igreja/ vocês podem imaginar o que isso/ significa eu era pastor na igreja/ ninguém aceitou meu casamento/ com ele escolheram ficar do lado/ de minha ex-mulher mas ela/ e eu continuamos amigos/ eu resolvi abandonar a igreja/ tive de abandonar o grupo de teatro/ da igreja da qual também/ fazia parte abandonei muita coisa/ para ficar com ele tudo valeu a pena”. Aí, o mundo onto-político chega até nós compactado nas falas daqueles que contam a sua história. Ele cabe na voz e adentra o poeta, como adentra a gente, quando a voz do poema entra pelos nossos ouvidos. As vidas rasteiras chegam num canto de sereia em extinção, de pessoas que narram o seu passado e seu presente, enquanto o poeta atua como um documentarista sem câmera, imediatamente permeável à autobiografia política que o outro carrega.
2) Depois, no poema “por amor”, por ocasião da viagem de Pucheu e sua companheira “para o outro lado do mundo”. Aqui as vidas rasteiras trafegam em “suas pequenas motocicletas”, que “param e passam fazendo barulho/ no sinal em frente”. “Aqui”, podem ser vistos “os rostos com seus arredores e mais/ do que os rostos os olhares dos rostos/ (…) a paisagem/ do olho o rosto enquanto paisagem/ expressiva o corpo paisagem por aqui/ do outro lado esses olhares de crianças/ adultos e velhos nas ruas pelos mercados/ nas casas por estradas quase perdidas/ em templos becos estreitos ruelas”. Do outro lado do mundo, as vidas rasteiras aparecem à visão no alto de uma montanha em cuja chegada esperava-se ver uma paisagem deslumbrante, mas o que se vê é uma mulçumana “sentada/ no gramado do amplo jardim/ de sua comunidade”, cortando “a longa extensão de grama” “com uma dessas pequenas tesouras/ de cozinha inteiramente/ desproporcionais ao corte de algo/ fora da cozinha ao corte/ por exemplo como no caso/ da grama de um amplo jardim”. Aqui, vê-se a violência de Estado, como mostrei acima, preservada, em “um local de memória pública”. Mesmo uma conversa parece se oferecer mais à visão do que à audição (“na mesa em frente/ à em que a gente escreve/ (…) duas alemães ou duas nórdicas/ ou ao menos duas estrangeiras/ (…) conversam/ em língua de surdos em língua de mudos/ elas conversam em libras/ de maneira que nada escutamos/ de suas bocas mas apenas/ os movimentos e os gestos/ de seus braços dedos bocas olhos/ mãos rostos sem que possamos/ entender absolutamente nada/ do que expressivamente elas conversam/ sem voz”). Assim, o que na primeira parte do livro vinha compactado, implicado, dobrado dentro da voz das vidas rasteiras, e precisava nos adentrar, na segunda parte se desdobra, se descompacta, ganha profundidade, tridimensionalidade – como mundo, espaço e tempo, cores, sons e cheiros, no qual o poeta e nós adentramos, e que o poeta vê, testemunha, experencia, mais do que ouve; e com ele, a gente.
3) Por fim, o “poema para a catástrofe do nosso tempo”. Aí, o poeta fala, berra. Ele ressoa as notícias e os acontecimentos políticos brasileiros desde o golpe de 2016 e a fatídica votação na Câmara dos Deputados contra a presidenta eleita Dilma Roussef. “[T]udo isso recomeçou,/ por exemplo, naquele/ 17 de abril de 2016,/ o dia em que o pior do Brasil/ se expôs pública/ e espetacularizadamente/ sem qualquer escrúpulo,/ na programação de um dia/ de domingo, em nome das famílias/ dos deputados, em nome/ de deus, em nome de qualquer/ coisa, menos em nome/ da coisa pública.”. Acompanhamos, como já dissemos, o dia a dia de como a política brasileira, e sobretudo seu presidente, reage à pandemia. “[A]qui, o presidente diz que o cidadão/ não é um potencial infestador/ justamente para ele poder infestar/ um número cada vez maior de pessoas,/ ou diz que tem de haver logo/ a infestação de 70% da população,/ aqui, o presidente sai à rua, aglomera/ cidadãos em torno de si, tosse, assoa/ o nariz e, imediatamente em seguida,/ dá a mão com que assoou o nariz/ a uma idosa, a outro homem e a quem/ mais estiver por perto”. Assistimos, mais uma vez, a cronologia dos milhares de mortos, dos corpos empilhados em necrotérios, a maior catástrofe sanitário-politica da história brasileira. A internet se torna a superfície do mundo, agenciando enunciados, vídeos e áudios, onde trafegam discursos e decretos autocráticos dos presidentes ao redor do mundo. “Países interceptam/ máscaras, respiradores, luvas/ que iam para outros países./ (…) Outro presidente, da nação/ mais poderosa do Ocidente, redirecionando/ para si mesmos equipamentos médicos/ de combate ao vírus que tinham/ como destino outros países, disse:/ ‘Precisamos das máscaras. Não queremos/ outros conseguindo máscaras’/ (…) Em Ankara, a Turquia sequestra avião/ que levava máscaras, protetores/ e respiradores da China para a Espanha./ A República Tcheca apreende máscaras/ e respiradores que iam da China,/ como ‘ajuda humanitária’, para a Itália./ Tailândia bloqueia máscaras que iam/ para a Alemanha”. O que, na primeira parte do livro, vinha como passado contado por outrem, e na segunda parte se desdobrara em mundo físico para ser testemunhado, visto e permeado, mas cujo arranjo evocava a presença de um outro tempo, aqui, ganha a forma de permanência no presente contínuo, horror que não acaba, cuja concretude é reproduzida em forma seriada ao longo de quase 100 páginas, em uma narração que nos atinge com o peso do que está transcorrendo e, portanto, nos asfixiando dentro de seus limites.
Assim o ciclo se fecha. Compactação de voz, descompactação em mundo, asfixia em presente contínuo. As três formas oferecem passagens de uma para a outra, formam um circuito. A fala da moradora de rua ecoa com o poeta quando ele se desloca pelas ruas da Tailândia. O horror de Phnom Penh se recompacta na fala de Pucheu sobre o Brasil atual, como aquilo que pode se descompactar no estado concreto da barbárie cambojana (e da ditadura brasileira). Pucheu fala do “nosso tempo” como aquilo que atualiza diversos presentes passados. “Tudo isso/ começou há muito tempo,/ tudo isso começou/ com genocídios e escravidões,/ tudo isso atravessou muitos/ de nossos momentos, tudo/ isso poderia ter vários/ começos e recomeços,/ mas, mais recentemente, tudo isso recomeçou”.
Por isso, o ato de estar focado no agora, em Pucheu, nunca segue uma relação meramente jornalística, como se o poeta fosse o editor-chefe de um noticiário, num modo de esvaziamento do presente equivalente àquele que o olhar turístico impõe à experiência de outras partes do mundo. Por isso o ato de estar conectado ao aqui nunca implica um nacionalismo vazio, como se a particularidade do que vivêssemos, embora distinta daquela vivida na Europa, não compusesse um grande quadro planetário no qual deslocamentos de partes distantes se comunicassem. Por isso Pucheu adere às partes humanitárias e ambientes políticos do mundo: apenas para carregá-los consigo em seu deslocamento pelos versos. Por isso a adesão de Pucheu ao que ele chama de “nosso tempo”: ocorre como uma forma de congelá-lo, para a formação de um “antimuseu” no qual jamais pudéssemos esquecer; também para melhor costurá-lo à nossa década de 60 e 70, a fim de denunciar a sua possível continuação. Porque Vidas rasteiras permeia um tempo histórico cujos diversos modos de violência institucional nos colocam na iminência de uma catástrofe, que Pucheu escreve para adiar.
II
O que provoca um livro de poesia cuja matéria e cuja enunciação repousa tão inteiramente na política, mas de uma forma tal que pode, ao mesmo tempo, discorrer teoricamente sobre ela, comentar detidamente fatos políticos específicos, e apontar de forma concreta a relação entre certa violência de Estado e certas existências precárias? Que ganhos traz um livro que trata a política desse modo, em comparação com outros modos de fazer poesia (política)?
A vida de um indivíduo humano comporta dezenas de anos. Cada ano de vida comporta meses, cada mês comporta semanas e dias; cada dia comporta horas, e em cada hora, em cada minuto, dezenas de ações, paixões, acontecimentos, pensamentos, enunciados, sensações, desejos, memórias, em suma, tudo o que um corpo é capaz de produzir. Se aceitássemos, para efeito de simplificação, que cada um desses movimentos compreende pelo menos uma enunciação possível capaz de relatá-lo, concluiríamos que a vida de um indivíduo exigiria uma quantidade potencialmente infinita de enunciados para descrevê-la na íntegra. O horizonte e a matéria-prima com que uma história de vida trabalha, portanto, é inicialmente incomensurável. Ele deverá ser reduzido a um número concreto de enunciados, que poderão contá-la ao longo de diversos livros, ou de alguns minutos de fala. Contar uma história de vida, assim, passa por selecionar os fatos vividos que se deseja indexar em som e sentido; passa por um trabalho de edição, enxugamento e seleção sobre um material preexistente.
Enquanto isso, outra posição enunciativa pertence àquele que deseja contar a história de vida de uma terceira pessoa; quando alguém deseja contar a história que alguém lhe contou. Ele também precisa lidar com uma série de fatores. Uma entrevista jornalística sobre a vida de alguém, por exemplo, trará um questionário pronto, com perguntas direcionadas a pontos que interessam ao entrevistador, extraindo com as perguntas as respostas nas quais ele terá a participação ativa de tê-las selecionado. A depender do projeto em que a entrevista estiver inserida, ela poderá aparecer na íntegra (em um jornal ou uma revista, por exemplo); ou apenas algumas partes – nesse caso, poderia estar incluído o estudo de um sociólogo que envolvesse dezenas de participantes. Aí, as respostas seriam compiladas, e uma série de hipóteses, observações, argumentações e conclusões poderiam ser extraídas das histórias contadas, que teriam sido direcionadas de acordo com o interesse, o tema, o objeto e as hipóteses da pesquisa. As histórias de vida das pessoas entrevistadas se apagariam em um texto transcendente, conduzido por outrem, norteado e costurado por questões mais ou menos gerais.
No caso de uma entrevista, de jornal da grande mídia ou artigo de pesquisa acadêmica, muitos fatores importantes acabariam desconsiderados. O tratamento dado às histórias de vida teria parentesco com o dos métodos científicos: ignoraria quase todos os elementos da circunstância em que a entrevista foi conduzida; onde aconteceu, quando, de que modo, com quais detalhes, etc. A espessura de quem falou, a espessura de quem perguntou. O fato de ter havido recorte no material preexistente da vida alheia pelas perguntas e o interesse do pesquisador – a tentativa de tornar o material compilado o mais circunscrito a um objeto traçado retilineamente.
É verdade que, se, em vez de uma entrevista, nos encontrássemos em um romance ou um conto, que trouxesse um narrador recontando a história de vida contada a ele por outro personagem, possivelmente encontraríamos a narração do ambiente em que a história de vida teria sido contada. A prosa do romance ou do conto arrastaria no mesmo fluxo de enunciados, sem distinção de nível (ao contrário de uma entrevista de jornal, que traz, de um lado, a pergunta, e, de outro, a resposta, marcadas graficamente); eu dizia, a prosa do conto arrastaria no mesmo fluxo de enunciados ambiente de enunciação, agente da enunciação e enunciados – numa indefinição de limites muito próxima daquela que permeia a nossa vida em quase todos os instantes, nos nossos pensamentos, nas nossas conversas, ou nos textos e mensagens que lemos: pois tudo, na vida cotidiana, é arrastado pela prosa.
Até que nascem os versos de um poema. Até que nasce esse fluxo de enunciação todo quebrado e posto à parte de todos os outros tipos de enunciados. Mesmo quando os versos embalam um ritmo de prosa, como os versos de Vidas rasteiras, estamos diante de uma instituição inequívoca na história humana: ali a imensidão, a onipresença e a incrível penetração da prosa em todos os recantos da vida social ou solitária encontram uma pausa temporária sob versuras, costuras, enjambements; uma pausa e um emolduramento na enunciação de um poema capaz de dividir provisoriamente em dois a nossa linguagem: ou bem a prosa, ou bem o verso. Saímos do trânsito das trocas costumazes e somos lançados em outra memória de cidade, de corpo, em outra dinâmica de ambiente. Saímos da casa e entramos na rua, ou voltamos da rua para casa. Nessa mudança – quando suspendemos a vida por um instante para ler os versos de um poema – o que acontece, o que é dito ganha a acuidade, a atenção, e a importância que o ambiente costumeiro, a prosa, não costuma dar. Victor Hugo já via isso muito bem, quase 200 anos atrás. “O verso é a forma ótica do pensamento. Composto de uma certa maneira, comunica seu relevo a coisas que, sem ele, passariam insignificantes e vulgares. (…) [Ele f]az com que o que o disse o poeta encontre-se, por muito tempo depois, indelével ainda na memória do ouvinte. A ideia, dominante no verso, toma de repente algo de mais incisivo e mais brilhante. É o ferro que se torna aço” (2007, pp. 76-9).
E mesmo que prosa e verso apresentem uma relação bastante íntima ao longo da história, de tal maneira que o nascimento efetivo da prosa, com o nascimento da escrita, tenha se dado sob demandas muito parecidas com aquelas entoadas em favor do verso livre (forma dominante dos poemas em verso há pelo menos 120 anos), ainda assim a marca gráfica ou sonora do verso introduz na enunciação a intimidade da matéria aguçada por um holofote.
Quando, portanto, em vez de em uma entrevista, um documentário ou um conto, nos deparamos em versos com a história de vida de uma moradora de rua, com o teor que a de Dona Laura possui, sofremos o impacto quase sem mediação da vida nua que ali se apresenta. Se uma vida precária, despossuída, como eu disse acima, acaba tendo quase apenas a própria vida como única posse, e, por isso, oferece-a quase integralmente mesmo nos menores gestos e ações – em sua simples presença –, uma vida despossuída, depauperada, quando aparece em um poema, ele mesmo depauperado da ilimitação da prosa, aparece quase como a prova material da existência concreta de uma categoria de vida coletiva, invisível e desfavorecida da sociedade. Como se fosse o poema o mais incisivo local para o seu aparecimento no radar ontológico-discursivo da sociedade. E o mesmo, no outro extremo, vale para o relato sem mediação da tortura: ali, nos versos, onde menos esperamos encontrar esse tipo de fato, um caso de tortura retorna com toda a sua barbárie, nos deixando tanto mais aturdidos quanto mais o resíduo daquela violência, sofrida na carne por sua vítima, nos soa impensável. Está no poema o local das piores provas materiais, e o local menos afeito ao registro da matéria? Se sim, justamente por isso, por não poder provar, quando se trata de apresentar a prova do que é impensável, parece que reside no poema o local onde essas categorias de eventos melhor poderiam entrar no radar ontológico da sociedade.
Do fato de os enunciados indexarem em som e sentido situações, acontecimentos, corpos afeto, matéria e movimento, temos que eles, os enunciados, ao acontecerem, se tornam capazes de movimentar em algum grau, mesmo que de longe, as situações, acontecimentos, afetos e matérias que indexam. Eles apontam para eles, ao mesmo tempo reproduzindo-os em outra escala e referenciando-os em sua escala primária – enquanto agem, nos sujeitos e no mundo, de longe sobre aquilo que apontam. Quando Pucheu torna em algum grau presente as vidas rasteiras ao longo de versos, ele está estimulando a procissão conjunta de vidas que nunca estiveram juntas fisicamente. Assim, referindo-se ao mundo de hoje, Pucheu promove, nos seus versos, primeiro o desenraizamento dos processos históricos e seus agentes, que, antes dos poemas, apareciam atados às circunstâncias históricas em que ocorreram; para, depois, ancorá-los como vetores de força nos versos que os desatam para nós, leitores.
Para tais ações, a particularidade com que Pucheu trata seus objetos parece indispensável. Na lógica filosófica, costuma-se chamar de “universal” ou “geral” uma proposição aplicável aos mais diferentes sujeitos, objetos, situações, lugares e tempos. Por outro lado, costuma-se chamar “particular” ou “singular” (embora normalmente tais palavras qualifiquem tipos distintos de proposições) uma proposição aplicável a um sujeito, objeto, situação tempo e lugar – e não outro. A proposição “o Capitalismo devasta os miseráveis que ele produz” poderia valer, em menor ou maior grau, tanto para o Brasil como para a Austrália, como para África; poderia valer tanto para hoje como para 150 anos atrás. Já a proposição “Alberto Pucheu escreveu o livro Vidas rasteiras” vale para designar um livro, e não outro, bem como o seu autor, e não outra pessoa. Possui, por isso, uma singularidade que a vincula a uma situação muito mais específica.
Basta uma rápida reflexão, porém, para nos darmos conta de que “geral” ou “particular” não formam uma disjunção exclusiva (ou isso, ou aquilo), mas direções opostas de um eixo no qual se podem marcar graus relativos de generalização ou particularização. Dizer que a proposição “o Capitalismo devasta os miseráveis que ele produz” corresponde a uma proposição genérica parece uma afirmação imprecisa na medida em que ela não pode ser aplicada em todos os casos e em todas as situações, mas apenas quando estivermos falando de um regime socio-econômico, e uma única categoria de existência desse regime. Existem outras situações nas quais poderíamos utilizar proposições mais genéricas do que essa: “o céu é azul”, por exemplo. Levando o raciocínio a um limite, a proposição “o ser é” seria uma proposição mais genérica do que “o céu é azul”, que, por sua vez, seria mais genérica do que “o Capitalismo devasta os miseráveis que ele produz”; essa proposição, diante das outras duas, apresentaria um grau maior de particularidade, embora apresente um grau maior de generalidade diante da proposição “Alberto Pucheu escreveu o livro Vidas rasteiras”.
Por isso, quando em alguns momentos deste texto eu afirmei que a poesia de Alberto Pucheu tratava com detalhes, e não de maneira genérica (como a maior parte dos poemas políticos fazem) as questões políticas que ela traz, eu o fiz com a intenção de tentar, num momento posterior do texto (agora), expôr o que eu queria dizer com isso. No próprio livro de Pucheu podemos encontrar duas maneiras distintas de tratar política na poesia. Logo na abertura do primeiro poema, encontramos a seguinte passagem:
tensionando a vida em cabos de aço
estendidos
do extremo norte
ao sul das américas
pontuando os vazios
e as imensidões
que atravessam
e os atravessam
buscando saídas
da morte
em barcos inflados
sobrecarregados
de perdas
pelo mediterrâneo
em campos
de refugiados
onde apesar de tudo
ainda tentam
sobreviver
por todos os lados
são os Estados
os exércitos as polícias
as bombas as balas
as fronteiras as moedas
as línguas as cercas
eletrificadas os muros
as discriminações
a morte qual será o som
desses cabos
tensionados
desses aços
desses mares
desses cactos
espetados por ponteiras
de ferro
a espetarem-nos
qual será o som
do espetado
qual será o som
do que espeta
nessa guerra sem fim
cada vez mais acirrada
qual será o som
dessas vidas
rasteiras miúdas
mimosas
mesmo que frágeis
tentando vingar
Nesses versos, encontramos diversos elementos que indicam a presença de um modo “mais” genérico de tratar objetos. Começa o poema com um sujeito oculto referido ao verbo “tensionando”, na sequência do qual aparece um substantivo, acompanhado de artigo definido, que se aplica a uma categoria vastíssima de seres, “a vida”: “tensionando a vida em cabos de aço”. Mais adiante, outros verbos com sujeitos ocultos, indicando ação ou processo mais genérico: “buscando saídas/ da morte/ em barcos inflados/ (…) em campos/ de refugiados” (quem busca? Quando? Onde se situam os campos de refugiados?); “ainda tentam/ sobreviver” (quem? A quê?). E outras palavras que designam entidades bastante amplas: “os Estados/ os exércitos as polícias/ as bombas as balas/ as fronteiras as moedas/ as línguas as cercas/ eletrificadas os muros/ as discriminações/ a morte (…)”. Levanta-se, também, uma questão que remete à categoria criada pelo poeta “vidas rasteiras”, até certo ponto geral: “qual será o som/ dessas vidas rasteiras”. O poema segue assim, por versos que omitirei, designando movimentos e processos agenciados por entidades até certo ponto genéricas, sem a indicação de um local e de um momento. Até que, sem nenhuma intermediação, o poema vira a chave:
mas que quando
se está em um
bar qualquer
num sábado
à noite
do centro
de uma grande
cidade
arruinada
podem emergir
bem ali
ao seu lado
à sua frente
dentro de você
adentrando você
por ser a voz
de uma filha
de potira
que a escuta
perdida
esparramando
mostarda
na mesa
movimentando
os dedos
na pasta amarela
levando-os
à boca
para falar
o que seria
inaudito
contando
que na noite
de ontem
choveu muito
debaixo
da marquise
tendo ficado
toda molhada
encharcada
ensopada
debaixo
de seus
sessenta anos
sem ter conseguido
os R$12,00
para pagar
a pensão
em que dorme
Nesse momento, “mas quando/ se está em um/ bar qualquer/ num sábado/ à noite/ do centro/ de uma grande/ cidade”, vira-se a chave. Mesmo sem especificar o bar, especifica-se que se está num bar; mesmo sem especificar o sábado, especifica-se que está num sábado (e à noite); mesmo sem especificar a cidade, especifica-se que está numa grande cidade; e mesmo sem especificar quem está ali, introduz-se a presença de um sujeito, de alguém num bar (que logo perceberemos ser a voz poeta que vinha enunciando um pouco mais oculta o poema desde o início). A partir daqui, não temos mais o sujeito oculto “tentando sobreviver”, mas um sujeito particular, a dona laura, a quem o ato de falar, e contar, se refere. Não temos mais “vidas rasteiras” indeterminadas mas uma vida rasteira; consequentemente, não mais vidas indeterminadas violadas pelos Estados, bombas, etc., mas uma história de vida, à qual se referem certos lugares e períodos de tempo. Aqui nos deparamos com um vetor de particularização que aponta para o concreto – para aquilo que tem pele, cabelo, músculos, uma existência histórica palpável.
Um livro político, de poesia e política, como o de Alberto Pucheu, poderia ter se limitado a entoar hinos de insurreição ou contra a opressão dos povos (e existem poemas ótimos assim). Ele poderia ter acontecido o tempo inteiro com a voz de trovão indignada dos que acusam a violência contra as minorias. Ele poderia ter se limitado a trazer as marcas biográficas de uma vida sofreu as consequências de uma estrutura social de desigualdade. Mas o livro de Pucheu, como poucos, vai até um mundo humano político em que a vida tem nome, aquele que a asfixia tem nacionalidade, e a asfixia ocorre com data e local definidos. Embora a enunciação do início do primeiro poema possa ter a força de uma canção de resistência por todas as vidas rasteiras, é a enunciação que dá nome, corpo, lugar e história a uma vida, que traz a carga de responsabilidade ético-política necessária a um livro que pretende se colocar no rés-do-chão para ouvir as vidas rasteiras – bem como os abalos e as catástrofes do nosso tempo. Seus poemas, conforme avançam, vão se colocando dentro de um mundo com altura, largura e profundidade. A voz com que os poemas enunciam, amorosa ou irascivelmente, não aparecem para nós como que de lugar nenhum, como normalmente aparecem as vozes graves que falam dos assuntos mais decisivos. A voz com que os poemas falam aparece senão sempre no mesmo tempo que nós, leitores, ao menos de uma distância que assinala o seu lugar para a dar a nós, leitores, a possibilidade de estimá-la como semelhante ou díspar, mas compossível à nossa própria distância para ela.
A ética e a política da voz dos poemas de Pucheu, que tantas vezes dá voz sem intermediação, se desloca, pelas casas, bairros e cidades de quem comprou seu livro, como mais uma das vidas rasteiras entre aquelas por que ela se desloca. Não que seu signatário, Alberto Pucheu, nem aquele cujo RG esse nome remete, Alberto Pucheu Neto, tenha as mesmas condições sociais daqueles a quem ele dá voz. Mas a sua ética e a sua política vêm em grande parte também disso, de saber ter encontrado e cultivado em si uma audição que se tornasse voz; voz que, sem ser moradora de rua, filha de Potira ou mulçumana em país budista, pôde se desgarrar do RG de seu portador e se disseminar “com a [sua] voz se confundindo/ com as vozes de uma incerta/ comunidade”.
E quando trata de política governamental, age o mesmo grau de particularização, grau cuja exposição talvez nos dê melhor a dimensão da grandiosidade de uma poesia como a que Pucheu fez. Em “poema para a catástrofe do nosso tempo”, os versos não se voltam simplesmente contra “o” Estado, contra “o” Capitalismo, conta “o” Neoliberalismo, contra “o” autoritarismo, contra “a” ditadura; nem apenas contra “a” escravidão, “o” racismo, “a” homofobia, “o” machismo; não se volta, em suma, contra conceitos gerais. Comenta-se, como frisei acima, eventos pontuais, praticados por figuras históricas a quem podem ser atribuídas as ações. Invoca-se uma declaração, e então comenta-se. Invoca-se, às vezes, até mesmo dados de pesquisas estatísticas, e então comenta-se. “Enquanto pesquisadores dizem que, aqui,/ se sabe apenas algo em torno de 8%/ dos casos de contágio e de morte/ pelo covid-19, uma pesquisa/ nos cartórios mostra que o número/ de mortos pelo vírus é 154%/ dos anunciados. Com sua política/ de extermínio, o governo, que,/ atuando e falando como quer/ sem que ninguém o limite,/ controla os dispositivos/ sobre os vivos e os mortos, não fabrica/ apenas os modos de matar, mas, agindo/ segundo uma lógica da desaparição,/ faz de tudo para apagar/ a memória dos que morrem,/ seus nomes, seus sobrenomes,/ suas histórias, algo de suas vidas,/ seus vestígios…”. Comenta-se como um articulista político comentaria o evento que acabou de ser noticiado no programa de televisão do qual ele participa ao vivo – com a diferença de que, na poesia, o articulismo político se transforma em política poética, do mesmo modo que a poesia nesse grau se transforma ato político: enunciação que não intervém no mundo em que ocorre apenas porque a capilaridade da macropolítica não permite.
Enquanto um problema social se torna menos combatível quanto mais se o destitui das coordenadas concretas em que ele está nos acometendo, a capacidade de enfrentá-lo se torna mais forte quanto mais o dimensionamos em detalhes. O mesmo vale para a duração: quanto menos nos aderimos ao instante, e mais percebemos que ele surge como “uma condensação/ de tempos díspares o lugar/ de uma disjunção anacrônica”, que começou muito tempo atrás, mais nos tornamos aptos a dimensionar as diversas faces que o problema pode assumir. Assim, no seu grau de particularização política, a voz de Pucheu aparece com uma força contrária ao apagamento da extensão de um problema. Se podemos dizer que a poesia desse livro é política, ela o é sobretudo porque não tenta, nem com a melhor das intenções, apagar nomes, eventos, hora e lugar perpetrados pelos agentes do caos. Ela é política na medida em que ninguém sofre sem nome, ninguém sofre sem a ação de particulares ou sem no mínimo desencadeadores, ninguém sofre politicamente sem a inscrição de uma hora e lugar para esse sofrimento – mesmo que no sofrimento político possamos perder o nome, a ligação com a realidade externa, e ele se perpetue como se não tivesse tido início nem aparente que possa ter fim. E é finalmente para isso que a voz de Pucheu se prolonga tanto: ela age contrária ao encurtamento do presente. Porque, diante do que sofremos passivos às portas do fascismo, torna-se um compromisso inegociável compreender que “amanhã não será um dia melhor/ do que hoje, que não é um dia/ melhor do que ontem”. Quem sabe assim não passemos à ação.
Referências Bibliográficas
HUGO, Victor. Do grotesco e do sublime. São Paulo: Perspectiva, 2007.
PUCHEU, Alberto. Vidas rasteiras. São Paulo: Editora Cult, 2020.


Bruno Domingues Machado nasceu em 1983 no Rio de Janeiro. É doutor em Teoria Literária pela UFRJ. Como poeta, publicou no ano de 2019 o livro “passo os meses na biblioteca do ccbb lendo livros de história natural”, pela editora Patuá.