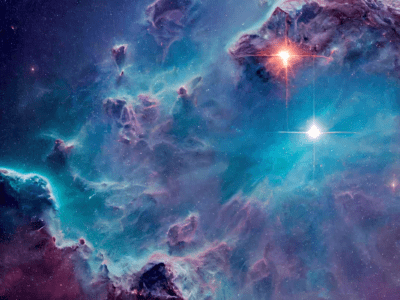7 Poemas e Prefácio para o livro “Ando caindo cada vez mais leve” | Luciana Barreto, Carla Andrade


“Ando Caindo cada vez mais leve”, Ed. Penalux
Entre o sono inquieto (fantasmas adulados) e a vigília mais lúcida (assombros renovados), uma prodigalidade se encena e fertiliza o mundo: a voz poética de Carla Andrade, expandida e amadurecida em seu quinto livro: Ando caindo cada vez mais leve (Penalux, 2021). E assim como o pantaneiro Manoel de Barros se apresentou ao mundo como o fazedor de amanheceres e mestre dos aprendimentos e memórias inventadas, a escritora mineira-brasiliense nos chega como uma fazedora de imagens, tamanha a perícia em nevralgicamente escavar do real sentidos outros em seu brincante (e febril) exercício de montar-desmontar-remontar simbólica e picturalmente seres e coisas, com o cuidado cirúrgico, porém, de contornar, polir, reverenciar o mistério, essa trêmula e indevassável raiz que a tudo precede e sustém.
Entre “libélulas bicolores”, “sádicas mariposas” e por meio de “búfalos vidrados” gravados em sua retina, a condição que ancora o mistério poético – a de que toda poesia é essencialmente imagem, condão encantatório por excelência – intensifica-se ainda mais em versos que desbordam a deslizante matriz do desejo, daquilo que escapa na medida em que é capturado. Pois a indagação de Marilena Chauí – “Por que o objeto do desejo se confunde com a embriaguez do próprio desejo? – ressoa nos versos de Carla Andrade e em seu “êxtase de sinapses”. Ao rastrearmos etimologicamente a origem das palavras, tanto desejo (desidero, sidera), que advém do campo semântico das estrelas e constelações, quanto êxtase (ecstase, exstase), suscitando o movimento de “sair, partir, desprender-se de si”, configuram o leitmotiv de sua poética. E o que são as águas-vivas que atravessam os seus poemas senão o duplo movimento de empuxo e expulsão, do que captura pela beleza, mas em fogo se defende ferindo, o que chega como ardente chamamento, perigo irresistível – e iminente –, mas não passível de ser retido, constituindo, assim, uma potente metáfora de suas perdas e predileções, lembrando aqui os Cantares de Hilda Hilst.
Em seu imaginário, então, evolam-se igualmente a derrelição hilstiana – diz a Obscena Senhora D: “Derrelição quer dizer desamparo, abandono”, “desde sempre a alma em vaziez – e a lucidez aguda de que “o garrote” dos pensamentos, acompanhado de seus “calos sem lógica”, não pode atrapalhar “a beleza do infinito”. E como assinala: “a falta de protocolo dos sentidos/ eu assino com incenso”.
É nesse perturbado e instável entre margens, no qual as pulsões primeiras e larvares, que emergem como fantasia e desejo, debatem-se com os contingenciais e opressivos esquadrinhamentos sociais, que se ergue a força inapreensível do feminino: “só a mulher não entende o que não foi esculpido/ e a vontade de mergulhar no vácuo de um abraço no cio.”
No movediço leito dos dísticos desejo-interdição, segredo-degredo, enlevo-desalento, Carla Andrade não deixa de dialogar com outra poeta mineira: Adélia Prado, para a qual “foi tudo um erro, cinza/ o que se apregoou como um tesouro.// O que tinha na caixa era nada./ A alma, sim, era turva/ e ninguém via.”
Ao assumir que “hoje melhor/ só devorar o barro/ Lilith de mim”, Carla altivamente assume sua posição de recusa, resistência e luta, deixando o seu brado ante uma sociedade violentamente patriarcal e feminicida: “Quando um homem bate em uma mulher/ o corpo bicho dela senta/ no canto do labirinto/ do cérebro e se contorce/ com o manto de dez a quinze minotauros”.
Em uma dicção enxuta, porém discursiva, como quem conta uma estória – a estória da menina que colecionava papéis de carta e fazia caretas no espelho –, a dimensão abstrata do amor, do tempo, da vida é disposta no concreto e perecível fruto que cai e apodrece: “o amor caído/ ainda faz estragos/ como o jamelão/ insistente/ no lençol branco/ quarado/ trazido/ pelos meus/ descalços.
Há de se notar ainda que os poemas de Carla Andrade estão ancorados tanto no ar rarefeito, em alturas extraordinárias, em que o humano não se faz possível, mas, sim, o sabiá que prevê tempestades, os pássaros sem ninho, quanto no submerso de si, em que a sua mulher-polvo regressa ao mar para reaprender o nado, e assim exige: “Boiar deveria constar nos manuais/ de existência.”
Sob “o medo de o mundo não acabar”, a poeta ritualiza a sua sanidade implodindo as balizas do real, desprendendo-se de si ao reconhecer que “antes de me desatarraxar do último átomo”, irá “sacudir a árvore da vida” e “rasgar o papel vazio/ sem poesia”. Em com ela somos arrastados por essas águas intransponíveis, pela claustrofobia inevitável em um eu-enclausurado que assume impotência e limitação ante o comezinho no tremor inevitável das mãos, no TOC estalando seus chicotes implacáveis.
Em meio a apelos existenciais lançados a esmo, embora o anzol da poeta retorna vazio de respostas – e junto o aflitivo clamor dos náufragos: “Sobrou apenas um pássaro na minha mão/ e quase o sufoco de vida” – sobreleva-se o seu pedido secreto: “antes de dormir eu peço/ para o deus da poesia/ só um dia/ e ele é bom/ e me dá papel/ e inflama o dia”.
Com “a inocência dos pés inquietos”, mas sem chaves no bolso tampouco portas do teatro mágico, a exemplo da mulher-esfinge, com sua cicatriz no quadril, por fim, todas as meninas-moças-mulheres em Ando caindo cada vez mais leve são compostas-decompostas-recompostas com uma única, estranha e absurda mulher-moça-menina, talvez a própria poeta a bordejar o impossível do tempo, da vida, da morte, a montar e remontar, em um continuum que alterna espanto, angústia e melancolia, o seu grande ensinamento, a lição içada por sua palavra-ponte: “a ponte sou eu/ me ensinando de longe/ a ser submersa”.
Sete Poemas do livro “Ando caindo cada vez mais leve”
Aula de anatomia para certas meninas
as meninas de outra época
colecionavam e trocavam papéis de carta
os de seda – os mais valiosos – amassavam
não eram espichados como o tergal das saias
Na ponta dos dedos toques sutis:
nervos fibras músculos e enredos
como uma descoberta num mapa
cada desenho uma labareda
a eterna promessa do completo
o papel de carta insinuava
o que não seria estudado na escola:
tesouros de piratas de seus corpos
marés encharcadas de águas-vivas
a ponta da pirâmide, esfinge
o cheiro dos papéis de carta:
orquídeas de Madagáscar
plantas carnívoras
coberta descoberta
lençol não trocado
árvores frutíferas
os envelopes das cartas
ficavam quase abertos
asas de libélulas
retirados em dedos ébrios
com luvas de cetim
de cartolas mágicas
já ouvi falar que as meninas
ardiam seus papéis de carta
em ferros a vapor
sem nenhum rubor
não aprendiam com as mães
mas com as mãos
os papéis importados
forasteiros
abriam-se
como figos na imaginação
um livro pagão
se em blocos
as meninas molhavam
a ponta dos dedos
e desfolhavam
um a um
alguns papéis de carta
se esfregavam dentro
das pastas
assim como as pernas
das meninas ao comprimir
seus travesseiros
tão bem lavados pelas mães
as mãos os dedos
eram cúmplices
assim como
as pernas penas
sem tinta sem álibis
as meninas não falavam
dos seus dedos no recreio
merendeira lacrada:
maçã, bolacha recheada
os meninos preferiam
medir coisas no banheiro
Meninas
de matemática não eram certeiras
de vasos sanguíneos mais festeiras
pequenos montes de eclosão
meninas e seus dedos
os meninos jogavam tapão
as meninas não trocam mais papéis de carta
algumas ainda guardam suas pastas
tocam-nos como tecido de alfaiataria rara
e sentem o cheiro de notas
das primeiras alforrias
***
Ostra aberta
seus lábios gomos
mais de uma pérola
beijo de fome
língua de falo
fala sem auréola
***
Semiótica e semi-deuses
eu queria subir em um tsuru
olhar bem antes
para o seu dégradé
e rir da sua longevidade jovem de mil anos
é um pesar ser tão eterno
(triste ou feliz) sem descanso
sem desmame do tempo
eu queria ir do Japão para a China
no seu grou amarelo poeta Calixto
destruir e reconstruir a Torre
sete vezes numa bebedeira cabalística
e trocar as cores das cerejeiras
pelas cores dos pessegueiros
mas não posso: eles também
têm vida longa e próspera
eu queria ter o corpo do Sísifo
as minhas pedras têm o mesmo peso
e rolam do topo todos os dias
se não for pedir muito
ter menos ouvido para escutar
as senhoras disputando
a eternidade antes da missa
(os suicídios estão mais sinceros
que as revoltas)
gostaria de sacolejar bandeiras
todas as cores
e já agora
a maioria cor sangue
mas acho que as pessoas
deveriam enxergar
como os cachorros
espectros azuis ou laranjas
– elas estão bem bipolares
não merecem as cores
cansada: quero
trançar meu cabelo
asilar este momento
e despertar amanhã
menos sóbria e sombria
ver sombra de árvores
no espelho dos meus olhos
e no colo da vida
ser flor das benzedeiras
***
Depois da vacina
cortar as unhas afiadas
para escalar o poço da sarjeta
reconstituir todas as cabeças
oferecidas de bandeja
grudar os umbigos
no resto de placenta do planeta
destruir todos os espantalhos
esses que fingem ser humanos
não deixar atalho algum
de como voltar a este ano
carregar os ossos deslocados
de todos os antepassados
colar as partes em laços
nadar com os sargaços
fazer deles nossos braços
veias e passos
Aí, sim, encostar
as palmas das mãos
no rosto de Deus
e voltar como um raio
apenas um raio
mas não sozinha
viva pela primeira vez.
***
Perto
No cafundó da minha alma
onde libélulas bicolores
se cumprimentam
mora a certeza de que a razão
atrapalha a beleza do infinito.
A falta de protocolo dos sentidos
eu assino com incenso.
Na razão, conheço o fundo das minhas rugas
os calos sem lógica dos pensamentos.
Nos sentimentos,
a idade é um eterno cochilo de menina
depois de brincar de bonecas
farta de estações de deslumbramento.
No cafundó da minha alma
onde peitos enormes
me amamentam
mora o meu maior rebento:
a habilidade da loucura
sem julgamentos.
***
Besta
Quando um homem bate em uma mulher
o corpo-bicho dela senta
no canto do labirinto
do cérebro e se contorce
com o manto
de dez a quinze minotauros
Quando um homem bate em uma mulher
o olho dela vai pro canto
e tem a cor de azeitona
já mordida e com caroço
Quando um homem bate em uma mulher
todos os marimbondos do tórax
saem pela sua boca
mas ninguém vê
Quando um homem bate em uma mulher
o corpo dela depena
e seu sangue ferve
numa bacia de prata
(os pedaços são dados aos cães
como se eles entendessem
o barulho minguado
da lua de suas tripas)
Quando um homem bate em uma mulher
ele sempre tem forma
de pino ou garrafa
e ela desfigurada
Quando o homem bate em uma mulher
ela sabe que jamais poderia ser um homem
***
Passarinhos
cinco e trinta e cinco
os ponteiros
voam pássaros
hora dos reis
sultões imperadores
sacerdotisas rainhas
monarcas presidentes
duquesas atravessarem
o céu denso
o portal da aldeia
da coreografia
sem ensaio
passarinhos são xeiques
xamãs aiatolás deuses deusas
o João de barro não é só um joão
sem reino eira e beira
passarinho é um diminutivo
palavra grande sem título
o diminutivo deixa as palavras
mais bonitas
os títulos são só títulos
que os passarinhos não têm.
É mais leve voar assim.


Luciana Barreto é poeta brasileira, ensaísta e professora de Literatura, com doutorado em Teoria Literária pela Universidade de Brasília (UnB). Desenvolve pesquisas nos universos de Hilda Hilst, Osman Lins, Clarice Lispector e Fernando Pessoa, participando de simpósios e congressos e com artigos relacionados em livros e periódicos acadêmicos. Atua como professora em Literaturas Brasileira e Portuguesa. Integra ainda os Grupos de Pesquisa Estudos Osmanianos: arquivo, obra, campo literário e Literatura e Cultura, ambos associados ao CNPq. Publica poemas em revistas e blogs literários, como Mallarmagens, Gueto, Ruído Manifesto, Traços e Escrita Droid, além de antologias, a exemplo de As mulheres poetas na literatura brasileira (Ed. Arribaçã). O seu livro solo de poesia – Nunca é casto o fio do poema – está em fase de editoração. Em outubro, sob sua organização, será lançada a antologia No meio do fim do mundo – 89 poetas hoje, pela Ed. Elã.
Carla Andrade é brasileira, mineira e brasiliense, mas gostaria de ser do fundo do mar. Tem outros quatro livros publicados: Caligrafia das Nuvens (Patuá), Voltagem (7Letras), Artesanato de Perguntas (7Letras) e Conjugação de Pingos de Chuva (LGE). Alguns de seus poemas foram traduzidos para o italiano, espanhol e inglês. É jornalista e servidora pública.